Três episódios e alguns dados para a discussão sobre o conteúdo dos dicionários
A necessidade de retratar a atualidade social da língua
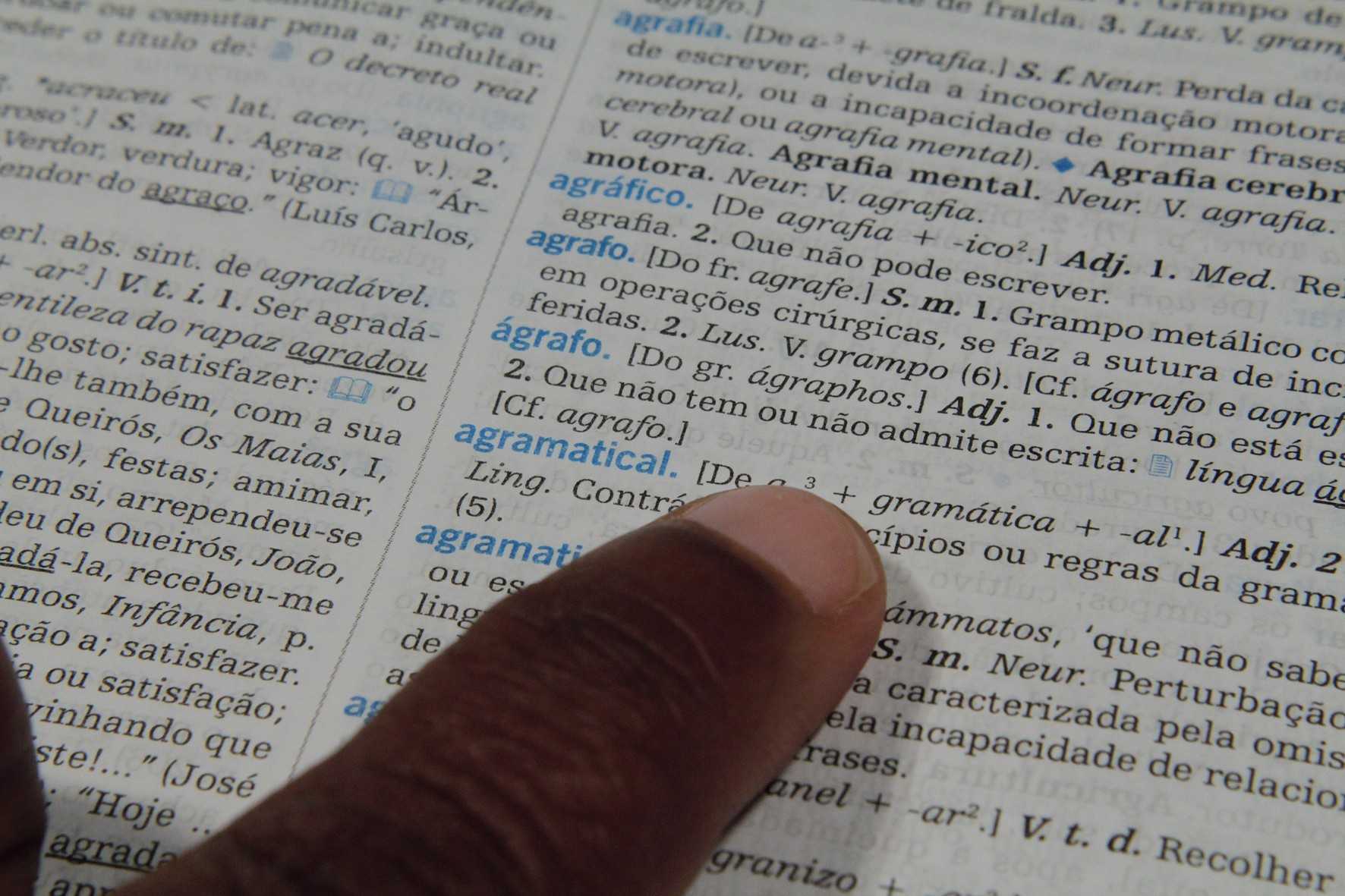 «(...) Precisamos de dicionários melhores, atuais e adequados, que retratem o estado atual da língua, aquele que reflete quem somos hoje. (...)»
«(...) Precisamos de dicionários melhores, atuais e adequados, que retratem o estado atual da língua, aquele que reflete quem somos hoje. (...)»
Em 2000, foi publicado, na coleção "Terra sem Amos"/Caminho, Chimarrão – História de um escravo, de Miguel Barnet, cuja tradução revi, a pedido do editor. A obra narra a vida do último escravo que viveu em Cuba e contém muitos termos relacionados com escravatura e mestiçagem (neutros e pejorativos), engenhos de açúcar e religiões africanas, como a iorubá. Para a revisão, recorri a dicionários brasileiros, nomeadamente o Aurélio (2.ª ed., 1986), que continha todos os equivalentes de que precisei.
Em 2002, traduzi De pernas para o ar – A escola do mundo às avessas (Caminho), de Eduardo Galeano, livro a merecer leitura atenta nos dias que correm. Um dos tópicos intitula-se "Curso básico de racismo e machismo" e nele o autor refere palavras e expressões racistas e machistas usadas na América Latina, precisamente para fazer pedagogia contra estas duas pragas sociais. A dada altura, o original apresenta uma lista de 20 designações em espanhol de pessoas mestiças, que aludem às etnias envolvidas e/ou respetivas proporções (e.g. mulato, castizo ou cuarterón); como tradutora, coube-me encontrar equivalentes em português e mais uma vez me serviu o Aurélio.
Em ambas ocasiões fiquei muito feliz por encontrar a informação de que necessitava, sem me questionar, confesso, sobre a ausência das marcas de uso (indicação de que determinada palavra ou sentido é se desvia do que é socialmente aceitável – e.g. dial[etal], obsol[elto], pej[orativo] ou vulg[ar]), que eram devidas em algumas entradas e definições, tantas vezes redigidas sem objetividade nem neutralidade discursiva.
Em 2004, Maria Tereza Biderman preparava um dos seus dicionários escolares e quis saber a minha opinião sobre manter ou retirar do dicionário termos racistas e machistas, usados frequentemente como forma de bullying. A pergunta pareceu-me insólita, porque a Maria Tereza sempre fizera dicionários rigorosos, por critérios científicos, baseados em dados de uso e, na minha perspetiva, o dicionário deveria constituir um retrato fiel do uso das palavras. Então ela chamou a minha atenção para o facto de o dicionário de língua comportar uma contradição, um pecado original: se, por um lado, tem como principal função descrever as palavras e seus usos (constituindo-se como instantâneo de um estado de uma língua e cultura), por outro, a sociedade atribui-lhe uma função prescritiva (considerando-o um regulador, que distingue o que é correto e deve ser usado do que deve ser evitado ou banido). Dito de outro modo, o que é incluído no dicionário fica legitimado por esse simples facto.
Até 1980/90, os dicionários eram feitos com verbetes em papel, muitas vezes manuscritos, que, depois de organizados, tomavam a forma de páginas de livro por composição tipográfica. Nessa época, os dicionários começaram a digitalizar-se: os existentes foram transferidos para programas de texto ou bases de dados e outros foram criados de raiz no computador. A digitalização tornou os dicionários passíveis de revisão e aperfeiçoamento constantes, ação a que as boas editoras procedem.
Uma vez impressa, qualquer obra se torna imutável. Uma obra de uma determinada época retrata ideias, usos, situações, crenças dessa época; constitui um documento histórico. Os dicionários também e, por isso, alguns podem apresentar conteúdos hoje socialmente inaceitáveis. Precisamos de dicionários melhores, atuais e adequados, que retratem o estado atual da língua, aquele que reflete quem somos hoje. A língua portuguesa merece. Nós também.
Artigo da linguista e professora universitária portuguesa Margarita Correia, transcrito, com a devida vénia, publicado no Diário de Notícias em 22 de maio de 2023.



