À volta do advérbio jamais e das suas múltiplas conotações
Uma flexibilidade mutante do discurso político
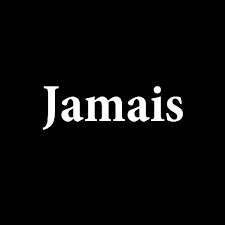 «(...) Diferenças significativas que têm mais a ver com a flexibilidade mutante do discurso político que com a linguística e a semântica, as ciências que tratam das palavras e do seu seu uso. (...)»
«(...) Diferenças significativas que têm mais a ver com a flexibilidade mutante do discurso político que com a linguística e a semântica, as ciências que tratam das palavras e do seu seu uso. (...)»
Um atento leitor a quem muito agradeço pela dissipação dessa perene dúvida de quem escreve nos jornais, que é saber se alguém o lê, chamou a atenção numa simpática correspondência electrónica – vulgo email, mas já que o tema é a correcta utilização da língua dispensemos esse anglicismo – para uma utilização menos acertada que terei feito do advérbio jamais numa crónica aqui publicada.
A frase, que o leitor cita, é «Um dos mais belos carros jamais feito», na circunstância um Alfa Romeo 1300 GT Junior enviado para a sucata por não ter sido feito para transportar pesos-pesados da Alta Cultura, o que, no inevitável choque entre a Poesia e as infraestruturas do saneamento básico, em virtude das irrevogáveis leis da física, só poderia ter dado merda. O amável leitor sugere que, em vez de jamais, deveria ter escrito «alguma vez» ou «já».
É certo que o advérbio jamais é usualmente utilizado com a conotação negativa de «nunca», como — e para usar um exemplo célebre — na assertiva opinião do então ministro [português} dos aeroportos Mário Lino de quem «um aeroporto na Margem Sul, jamais», ou, para citar outro exemplo mais recente, na exortação de Pacheco Pereira na semana passada a que o PSD faça uma declaração a dizer que «nunca, jamais» procurará uma aliança com o Chega.
Entre estas duas declarações e utilizações de «jamais» há diferenças significativas que têm mais a ver com a flexibilidade mutante do discurso político que com a linguística e a semântica, as ciências que tratam das palavras e do seu seu uso. Enquanto o «nunca, jamais» de Pacheco Pereira utiliza a redundância das suas palavras como um ênfase necessário no seu significado irrevogável de «chega para lá», sendo o «nunca» um reforço significante do «jamais», o célebre «jamais» do ministro Mário Lino sobre a construção de um aeroporto de Lisboa na Margem Sul, com a forte certeza actual de que o mesmo poder socialista que afastava para todo o sempre essa possibilidade o venha a construir no Montijo ou em Alcochete, quer dizer «pode ser». Ou até, visto que a localização do novo aeroporto anda para ser decidida há mais de meio século e nada garante que o venha a ser tão cedo e não ser uma simbólica colocação de uma «primeira pedra», «nunca mais». Numa curiosa reviravolta das coisas, jamais pode ser mesmo jamais.
Nada disto é novo, e desde pelo menos o aparecimento da «novilíngua» no 1984 de Orwell que estamos atentos ao uso e abuso do sentido e significado das palavras mais simples para significar o seu contrário e para deturpar e inverter conceitos elementares e correntes, sem os quais a conivência política e a aceitação pela sociedade da convivência e das regras democráticas se tornam problemáticas e adubam os Chegas e Trumps deste mundo. A «novilíngua» de Orwell, a «newspeak» do 1984, era uma sátira feroz ao uso das palavras pelo poder ditatorial, tanto nazi como sobretudo soviético, e a aceitação passiva pelos partidos comunistas e «idiotas úteis» no Ocidente dos slogans e chavões de pensamento utilizados pela propaganda. O 'Ministério da Verdade' e o 'Ministério da Abundância', num regime onde a verdade era clandestina e reprimida e morriam milhões de pessoas à fome, são hoje caricaturas óbvias, mas mais insidioso e perene é a crescente substituição de palavras antigas e correntes por eufemismos e a introdução de conceitos que não têm outra utilidade que não a criação de uma nova ortodoxia.
Basta recordar o misterioso desaparecimento dos velhos, não por malefícios da eutanásia mas por terem sido substituídos por legiões de «idosos» e «cidadãos seniores», quando não por seres ambivalentes que ou estão na terceira idade ou na segunda infância, E, mas essa seria outra discussão mais longa, a introdução de ortodoxias inquestionáveis de «Estado social», «alterações climáticas», «digitalização», «causas fraturantes», «direitos LGBT+» e por aí fora, é só abrir os jornais ou as televisões, tudo temas importantes que devem ser defendidos mas cuja complexidade exige informação e um debate e discussão abertos sem as quais a sociedade – isto é, as pessoas – se sentem cada vez mais alheadas das decisões, forçadas a aceitar passivamente essas ideias feitas como os novos dogmas, da mesma maneira acéfala e temerosa como, ainda não há assim tanto tempo aceitavam os dogmas da Santa Madre Igreja, ou com Salazar, não discutiam Deus nem Sua Virtude, não discutiam a autoridade e o seu prestígio, não discutiam a família e a sua moral, não discutiam a glória do trabalho e o seu dever. Não, tudo se discute e deve discutir. Da discussão, como diz a frase-feita mas verdadeira, nasce a luz. A menos que por «discussão» se entenda os debates parlamentares onde, ao contrário da luz, o que emana é um denso cinzentismo.
Voltando ao nosso atento leitor, «jamais» não tem necessariamente de ser uma negação. Pode ser usado numa proposição comparativa significando «alguma vez». Como em «Isaltino é o maior glutão que jamais foi presidente de Câmara». Não sei se é verdade, nos 308 municípios e na longa história da Pátria desde os afonsinos haverá certamente muitos «homens bons» dados às comezainas. Recorde-se que já D. João V terá morrido com uma ingestão de lagosta, embora haja quem defenda a tese igualmente plausível de que foi por excesso de afrodisíacos para satisfazer a temível Madre Paula. Ou as duas, não são mutualmente exclusivas. Nos tempos actuais a escolha do arroz de lavagante sobre o colestrol e o bem-estar animal é um desfio às novas ortodoxias da comida saudável. Ao menos isso.
Crónica da autoria do jornalista José Júdice, transcrita, com a devida vénia, do semanário Tal&Qual, II Série, de 4 a 10 de outubro de 2023. Escrita segundo a norma ortográfica de 1945.



