Amamos a etimologia!
Formação popular e formação erudita das palavras
«Como disse João Guimarães Rosa: "Cada palavra é, segundo sua essência, um poema."»
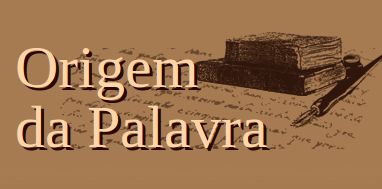 O vocabulário de uma língua com longa tradição escrita, como o português, apresenta palavras diferentes derivadas de um mesmo étimo (de uma mesma origem) latino. Umas têm a forma que lhes deram os falantes comuns ao longo do tempo, deixando agir as forças articulatórias e os processamentos cognitivos (como a analogia e a metáfora) que estão na origem das mudanças ocorridas na língua. Essas palavras são chamadas de «formação popular». Outras foram incorporadas conscientemente ao léxico da língua por intelectuais que sentiram a necessidade de recuperar os sentidos que tais palavras tinham em latim para tratar de temas mais “elevados”, filosóficos, teológicos, científicos etc. Essas palavras são chamadas de «formação erudita».
O vocabulário de uma língua com longa tradição escrita, como o português, apresenta palavras diferentes derivadas de um mesmo étimo (de uma mesma origem) latino. Umas têm a forma que lhes deram os falantes comuns ao longo do tempo, deixando agir as forças articulatórias e os processamentos cognitivos (como a analogia e a metáfora) que estão na origem das mudanças ocorridas na língua. Essas palavras são chamadas de «formação popular». Outras foram incorporadas conscientemente ao léxico da língua por intelectuais que sentiram a necessidade de recuperar os sentidos que tais palavras tinham em latim para tratar de temas mais “elevados”, filosóficos, teológicos, científicos etc. Essas palavras são chamadas de «formação erudita».
Quando temos duas palavras (às vezes mais de duas) derivadas de uma mesma latina, dizemos que se trata de «formas divergentes», formas que, a partir de um mesmo ponto de origem, avançaram por caminhos diferentes. Quando buscamos as datas de entrada de cada palavra na língua (ou seja, data da primeira ocorrência escrita da palavra, já que os antigos não nos deixaram nenhuma mensagem de áudio), vemos sempre que as de formação popular são mais antigas que as de formação erudita. Estas foram convidadas a participar da festa do idioma principalmente no período renascentista, quando a língua passou a ser empregada em domínios intelectuais onde antes só vigorava o latim. O celebrado Luís de Camões, por exemplo, despejou baldes de latinismos em sua poesia. A maioria desses latinismos, ao contrário do que sempre se ensinou, foram tomados de empréstimo diretamente ao espanhol, língua com muito mais prestígio cultural do que o modesto português confinado a seu pequeno retângulo à beira-mar. Sendo línguas próximas, e ambas derivadas do latim, as formas latinizadas castelhanas couberam feito luva nas mãos portuguesas. Quem mostrou isso lindamente foi o linguista português Fernando Venâncio, que perdemos há poucas semanas, em seu livro "Assim nasceu uma língua", que tive o prazer de prefaciar. (Corram para ler, é maravilhoso!)
O bonito também é ver que, na formação popular, muitas as palavras viajaram para longe dos sentidos que tinham na origem, de modo que os significados se modificaram tanto quanto o aspecto do vocábulo. Por exemplo, o latim implicāre está evidentemente na origem de implicar (adotado no século 15), mas também na de empregar (s. 13). Também de cogitāre temos cogitar (s. 18), ao lado do imprescindível e gostoso cuidar (s. 13). A rūga latina se mantém tal e qual em ruga (s. 18), mas é também a origem de rua (s. 12). Do latim capitālis temos cabedal, caudal e, claro, capital. O latim recitāre nos deu rezar e o erudito recitar. Pensar e pesar derivam do mesmo pensāre. E frigĭdus nos deu frio e frígido. De materĭa temos madeira e matéria (e todos derivados de mater, mãe). A vagīna do latim nos deu, claro, vagina, mas também bainha (como a bainha da espada...). As formas populares têm o perfume sutil da metáfora, da metonímia e da analogia.
Em outros casos, a forma popular conserva o sentido original, e é a forma erudita que ganhou ares técnicos, científicos, literários. Assim, ocŭlus em latim significava olho (e é o étimo de olho), enquanto óculo e seu plural óculos são de uso técnico. De igual modo, digĭtus é o étimo de dedo e também de dígito, de uso moderno. Outra parte do corpo que apresenta caso semelhante é o ombro, do latim umĕrus, que também é o étimo de úmero, termo técnico da anatomia. O mais comum, porém, é que a forma popular apresente sentidos diferentes dos do étimo, como se viu acima.
Apontamento publicado em 5 de julho de 2025 no mural do autor no Facebook.



