Controvérsias // Ensino das literaturas de língua portugusa
Discutir o racismo n’Os Maias é ensino responsável ou ameaça à autonomia da literatura?
A resposta de quatro especialistas da obra queirosiana
« (...) A questão racial está na ordem do dia e é interessante ver como a descrição da realidade do século XIX nos pode fazer discutir coisas contemporâneas. (...)»
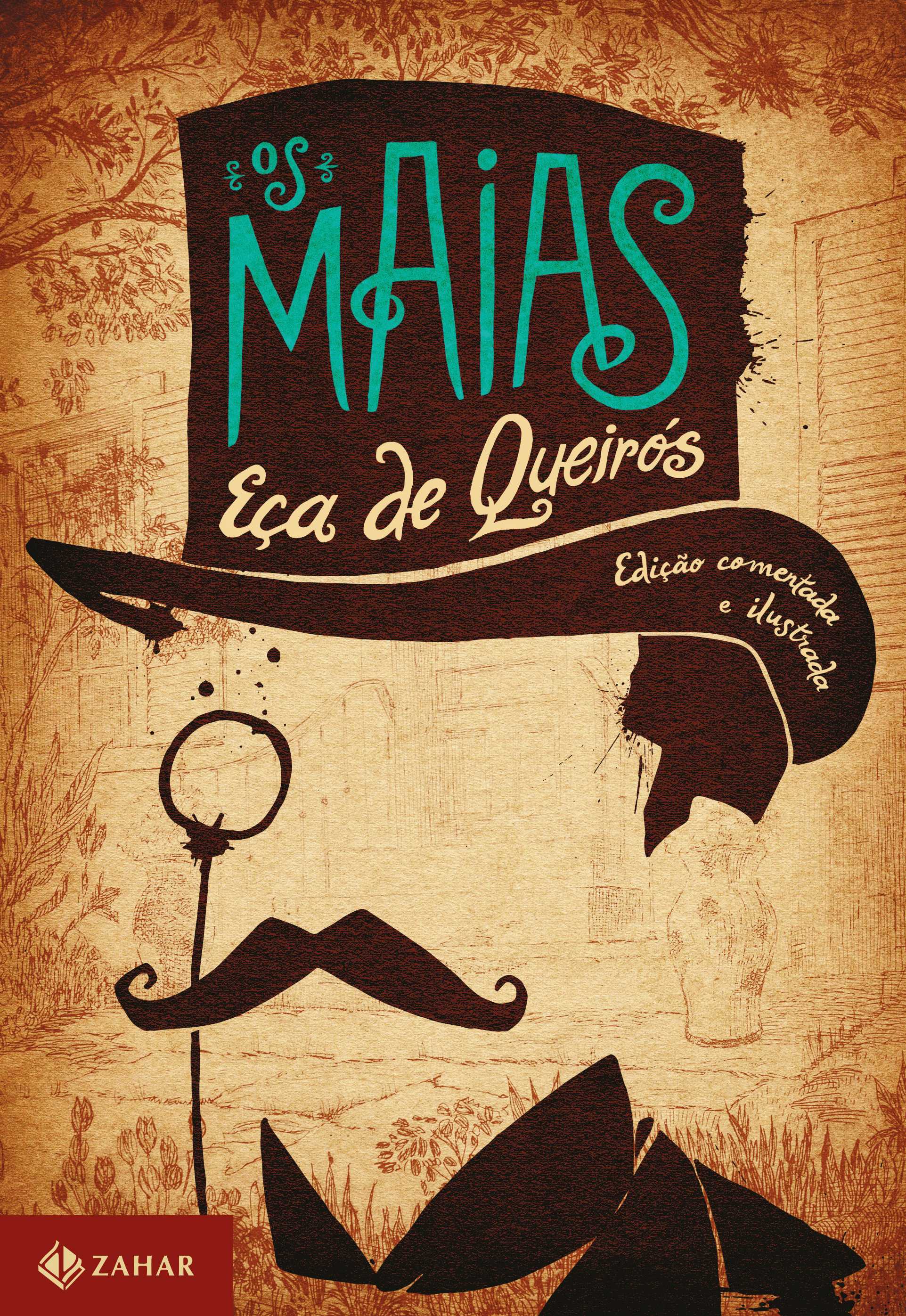
Quando Vanusa Vera-Cruz Lima, uma estudante de doutoramento da universidade americana de Massachussetts Dartmouth, onde também ensina português, deu uma palestra por Zoom, no passado dia 18 de Fevereiro, que partia da pergunta “Serão Os Maias de Eça de Queirós um romance racista?” tinha decerto consciência de que encontrara um título provocador, mas dificilmente adivinharia que, um mês e meio depois, e após dezenas de notícias e textos de opinião nos jornais e incontáveis publicações nas redes sociais, a polémica que gerou não teria ainda esmorecido, como a tardia publicação deste artigo de resto confirma.
Na verdade, a controvérsia até começou ainda antes de Vanusa Lima, uma investigadora com dupla nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana, ter iniciado a sua apresentação, na qual analisaria «não apenas a ofensiva linguagem racista usada neste romance clássico hipercanónico, mas também a hiperbólica [outsized] adoração da brancura detectável na narrativa», para citar o texto que anunciava a palestra. Victor Mendes, professor de Estudos e Teoria Luso-Afro-Brasileiros naquela universidade, conta: «Antes da palestra, quando ainda não havia nenhum argumento sobre a mesa, recebemos montes de mensagens, nas redes sociais e por mail, a dizer "que estupidez!" ou "que vá para a terra dela!", o que é particularmente irónico tratando-se de uma cidadã da República Portuguesa».
O departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Massachussetts Dartmouth tem uma longa tradição de organizar palestras públicas, e ainda em Outubro do ano passado uma professora que fez ali o seu doutoramento, Diana Simões, apresentou uma conferência que também incidia n’Os Maias, discutindo o modo como o romance “desumanizava” as personagens femininas, justapondo-as a animais, plantas ou objectos. «Uma análise racial d’Os Maias, seja qual for a conclusão, é questionada, mas um tópico igualmente quente não gera qualquer controvérsia na sociedade portuguesa», observa Victor Mendes, sublinhando, no entanto, que nada o move contra as polémicas, que até «têm produzido bons resultados».
Receando que a palestra de Vanusa Lima pudesse atrair alguns espectadores digitais mais interessados em bloquear a iniciativa do que em ouvir a oradora, a assistência só pôde intervir no final, no período de perguntas e respostas, que se estendeu “muito civilizadamente” por uma hora e meia, diz Victor Mendes, até que ele próprio achou que já era tempo de lhe pôr fim. Mas a discussão prolongou-se na imprensa e nas redes sociais. «Houve mais de 30 artigos nos jornais e convites à Vanusa para ir à televisão, à rádio e à cassete pirata, e ela percebeu que isto se poderia tornar um emprego a tempo inteiro e não faria mais nada na vida», diz o professor.
Victor Mendes, a quem Vanusa Lima mostrou interesse em ter como orientador de tese, acha que a doutoranda, até tendo em conta a sua experiência pessoal – «é cabo-verdiana e portuguesa, e já morou em Lisboa, na Holanda, no Brasil, e agora nos Estados Unidos» –, deveria ponderar uma abordagem tripartida que incluísse, a par de Os Maias, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e um clássico da literatura cabo-verdiana, Chiquinho, de Baltasar Lopes, o que daria à tese «uma perspectiva comparatista, mostrando que não se trata de atacar um alvo, mas de analisar uma estrutura mental e uma linguagem».
Uma pergunta incómoda
O Público tentou ouvir a investigadora, mas esta confirmou que as suas obrigações académicas não lhe permitiam neste momento dar mais entrevistas e prontificou-se a ser contactada noutra altura. No entanto, a partir dos relatos da sua palestra que surgiram na imprensa e das próprias declarações que foi fazendo aos jornais, talvez possa resumir-se a sua posição em dois pontos, que correspondem a uma constatação e a uma proposta. A primeira, fundamentada num conjunto de citações d’Os Maias, é a de que o romance contém várias passagens racistas. Uma das mais eloquentes ocorre no capítulo XII e tem como cenário o jantar dos Gouvarinhos, durante o qual um comensal pergunta a João da Ega se este defende a escravatura. «Ega declarou muito decididamente ao sr. Sousa Neto que era pela escravatura. Os desconfortos da vida, segundo ele, tinham começado com a libertação dos negros. Só podia ser seriamente obedecido, quem era seriamente temido… Por isso ninguém agora lograva ter os seus sapatos bem envernizados, o seu arroz bem cozido, a sua escada bem lavada, desde que não tinha criados pretos em quem fosse lícito dar vergastadas…», escreve Eça [a transcrição segue a edição crítica coordenada por Carlos Reis].
Já a proposta que Vanusa Lima avança a partir do reconhecimento da existência de linguagem racista n’Os Maias é a de que se justificaria que as edições do romance incluíssem um «comentário pedagógico». A investigadora defende que «as passagens raciais não retiram nem adicionam valor» ao que a obra «representa na literatura portuguesa», mas acredita que devem ser encaradas como «oportunidades de ensino e instrução culturalmente responsáveis». Um argumento que sugere que, ao propor a inclusão da referida nota, est á a pensar apenas nas edições adoptadas nas escolas e, designadamente, no ensino secundário.
á a pensar apenas nas edições adoptadas nas escolas e, designadamente, no ensino secundário.
Além de Victor Mendes, o Público ouviu a escritora Isabela Figueiredo, cujo Caderno de Memórias Coloniais trouxe um olhar novo e impiedosamente honesto à literatura portuguesa que tratou a guerra colonial, o fim do império e a experiência dos retornados, mas que foi também durante muitos anos professora de português no secundário e tem uma vasta experiência de ensino d’Os Maias; a escritora, jornalista, crítica literária e professora de Estudos Portugueses em Edimburgo, na Escócia, Raquel Ribeiro, autora de um dos vários artigos de opinião suscitados por esta polémica; e ainda o ensaísta Abel Barros Baptista, catedrático do departamento de Estudos Portugueses da Universidade Nova de Lisboa e reconhecido camilianista. Ainda tentou ouvir um queirosiano, Carlos Reis, mas este declinou comentar o assunto.
Que Vanusa Limdeve ter toda a liberdade para ler Os Maias como quiser, que tem razão em identificar como racistas vários excertos do romance, e que nada obsta a que estes sirvam de pretexto para os professores discutirem o tópico do racismo nas suas aulas são alguns dos consensos que emergem destas conversas.
Mas saber se as passagens citadas pela investigadora transformam Os Maias um romance racista, ou mesmo se é pertinente sublinhar a presença destas passagens, que se encontrariam com a mesma facilidade em virtualmente qualquer romance português do século XIX, já são perguntas de resposta bastante menos consensual. E quando chegamos à recomendação de se incluir uma nota pedagógica em edições do romance, as opiniões assumidas com maior veemência são as que militam contra essa possibilidade.
«Não quero nenhum Governo a dizer-nos como interpretar Os Maias», diz Victor Mendes, que não defende a imposição coerciva de nenhuma nota pedagógica. Mas acena com as dezenas de edições escolares com resumos, fichas e comentários do romance que andam no mercado – algumas delas com «a função razoavelmente explícita» de evitar que os alunos tenham de ler livro – para lembrar que a nota proposta por Vanusa Lima seria apenas mais uma, e tanto quanto sabe a primeira respeitante à questão racial.
Baseado na sua longa experiência académica nos Estados Unidos, assegura que «os estudantes de doutoramento, e especialmente a nova geração, não têm uma grande vocação para fazer um trabalho de meses ou anos sobre o uso da vírgula n’Os Maias: têm motivação para outros tópicos, que são da escolha deles e delas e que dizem respeito à sociedade contemporânea e aos seus próprios interesses».
O mesmo argumento é reiterado por Raquel Ribeiro. «Porque é que a questão racial não há-de ser mais um tema a debater com os alunos? E porque não também questões de género? Será que Eduarda ou Raquel Cohen eram mulheres emancipadas? Como é que Eça descreve as mulheres?», interroga. «Aquilo é um texto longo e que não é propriamente fácil de ler, e às vezes é preciso fazer com que a sua leitura seja de alguma maneira entusiasmante para os alunos do secundário», defende, criticando o modo «chato, prescritivo, analítico» como o romance continua a ser ensinado. «A questão racial está na ordem do dia e é interessante ver como a descrição da realidade do século XIX nos pode fazer discutir coisas contemporâneas», argumenta. «É isso que a literatura faz, cria esse efeito de espelho para nós mesmos, seja qual for o tempo em que vivemos».
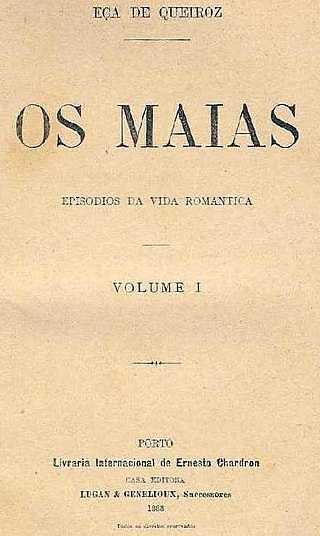 O próprio modo como esta polémica se desenvolveu – «quase ao nível do folhetim» –, confirma a sua convicção de que «a academia e a cultura literária em Portugal são muito fechadas e elitistas» e presumem deter autoridade sobre o cânone literário nacional. «Quem é que esta estudante pensa que é para confrontar um texto canonizado, que amamos e pusemos num pedestal, e fazer-lhe aquelas perguntas incómodas?», ironiza.
O próprio modo como esta polémica se desenvolveu – «quase ao nível do folhetim» –, confirma a sua convicção de que «a academia e a cultura literária em Portugal são muito fechadas e elitistas» e presumem deter autoridade sobre o cânone literário nacional. «Quem é que esta estudante pensa que é para confrontar um texto canonizado, que amamos e pusemos num pedestal, e fazer-lhe aquelas perguntas incómodas?», ironiza.
A pergunta que Vanusa Lima dirige ao romance «incomoda porque vem de baixo», sugere. «São aqueles que nós tornámos outros que de repente se perguntam: mas como é que eu me vejo neste espelho, como é que me confronto com isto?»
Isabela Figueiredo ensinou Os Maias no secundário, mas não pode dizer que se lembre de a questão racial ser suscitada nas aulas, e tem uma explicação para isso. «Essas passagens aparecem sobretudo nas cenas em que os homens estão em tertúlia a discutir política, que são as partes mais chatas, que os miúdos detestam e passam à frente, e nós também».
A autora não gosta de julgamentos sumários e diz não ter apreciado «a recepção nas redes sociais» à notícia de que uma investigadora numa universidade americana encontrara ideias racistas n’Os Maias. E surpreende-a o escândalo: «Grande novidade: o Eça, o Camilo [Castelo Banco] e toda a literatura europeia dos séculos XIX e XX está cheia de ideias racistas». Mas também acha que «é necessário contextualizar, dizer que no final do século XIX, quando o Eça escreveu o livro, a ideia de civilizar os negros era uma ideologia plausível, corrente, que hoje muito validamente questionamos, como daqui a cem anos seremos questionados pelo que pensamos hoje». Daí que ache «possível afirmar que Eça era racista», mas pergunte: «Quem não o era em 1800 e tal? Que pensamento existia então que se opusesse a isso, a essa cultura?»
Tendo lido dezenas de vezes o romance, não acha que seja «uma obra racista». Acredita, sim, que «Portugal é uma sociedade ainda muito racista» e que «todos os contributos para ajudar a eliminar essa ideologia são úteis». Mas também percebe que haja «muita gente inquieta», porque «o mundo está a mudar muito rapidamente, há muita coisa a ferver ao mesmo tempo».
Pensa que «não faz mal nenhum fazer-se análise crítica do passado», e estudar-se e discutir-se passagens como essas a que Vanusa Lima agora deu visibilidade, desde que elas não sejam expurgadas do romance. E que não façam perder de vista que «Eça é o maior escritor português do século XIX» e que «ler toda a sua obra é o melhor curso de escrita criativa que alguém pode fazer».
O modelo da errata
Abel Barros Baptista até nem poria Eça no trono que Isabela Figueiredo lhe outorga – não custa adivinhar quem seria o seu candidato –, mas concorda que «o racismo é uma chaga» e «um problema sério em Portugal, que tem de ser discutido de forma ampla». Não acredita é que isso se deva fazer «encontrando passagens racistas em obras literárias do passado».
Observando que «não nos faltam pretextos» para discutir o racismo, «a começar pela própria História de Portugal», não lhe parece que se justifique usar o romance de Eça para esse efeito, e muito menos acrescentar-lhe notas pedagógicas. «E porque não, então, sobre o modo como os homens se referem às mulheres n’Os Maias?», pergunta. E lembrando que «os alunos dantes tinham de estudar a estrutura da narrativa», receia que agora «tenham de estudar o que está certo e errado, o que é uma intromissão da moral, que nega a ideia de literatura».
Daí que defenda que «não podemos estar a pôr notas a dizer que este livro tem passagens horríveis, porque é uma forma de autoritarismo e de paternalismo disfarçado que desrespeita o autor e o leitor». E nota que esta discussão em torno de obras do passado também se pode colocar no presente: «Será que não é possível hoje alguém escrever um romance em que apareça um escravocrata a elogiar as vantagens da escravatura, o que, de um ponto de vista literário, até pode ser uma forma de denúncia muito eficaz?»
Argumentando que «não podemos combater o racismo ameaçando a autonomia da arte», o ensaísta defende que a literatura «é transnacional e está acima das raças e dos sexos» e lamenta que «ande perdida essa ideia de que quando nos abeiramos de um livro ele é sempre estrangeiro para nós».
Abel Barros Baptista preferia que esta polémica se tivesse centrado menos na defesa do romance ou do seu autor e mais na discussão do que é ensinar literatura na escola. E nesse plano afasta-se daquilo a que Vanusa Lima chama ensino «culturalmente responsável», argumentando que este se «baseia na figura da errata: aponta-se o erro, explica-se porque é erro, corrige-se nas aulas e espera-se dos alunos que aprendam a reconhecê-lo, naquele livro e nos outros, porque o erro é legião».
Um modelo que se “apresenta como novo”, mas que, defende, «quase todo velho, pois é o mesmo programa de redução da literatura a expressão da história, ou da identidade, ou do povo, ou da ideologia, ou do idioma, ou dos celerados que a escreveram».
Victor Mendes também é «muitíssimo favorável à autonomia da literatura, como da arte em geral», e acha que esta «não deve ser um repositório de posições políticas com fins específicos», mas nem por isso considera ilegítima uma análise política do romance de Eça. «Os Maias pensam formas de organizar a sociedade» e «fazem análise moral», defende, lembrando, por exemplo, a crítica de Eça à mundanidade dos prelados da Igreja Católica. «Não podemos ser uns copinhos de leite e dizer que não podemos fazer análise moral de uma obra de arte. Claro que fazemos: não há nenhuma interpretação que não tenha essa componente.»
E rejeita também um dos argumentos mais esgrimidos nesta polémica: a de que não se pode reflectir no autor o que dizem as suas personagens, exercício que a intromissão da ironia tornaria ainda mais inseguro. Victor Mendes até não tem dúvidas de que é esse o caso na passagem em que João da Ega enaltece a escravatura. «É evidente que é uma ironia, toda a gente percebe isso, que ele é alguém que diz boutades, coisas satânicas». Mas ao contrário dos que, «ao invocarem a ironia, pretendem fechar a interpretação da passagem», pensa, pelo contrário, que esta a “abre”, porque «é uma ironia com objecto, que conta uma história específica – podia ser sobre alentejanos, mas não é; há aqui um factor que não é aleatório e que se prende com outros aspectos da obra e da personagem».
A Abel Barros Baptista preocupa-o o que o ensino “culturalmente responsável” poderá fazer «à experiência de ler, singular e própria de cada um». E ironiza (ou talvez não): «A experiência do estudante deixado a sós com o livro ou em comum com outros e o professor em aula, sem metas, nem finalidades, nem erratas, meu Deus, que perigo!»
Cf. Eça de Queiroz, "Os Maias" e uma pergunta sobre racismo
Trabalho incluído na edição do jornal Público de 3 de abril de 2021, escrito conforme a norna ortográfica de 1945.



