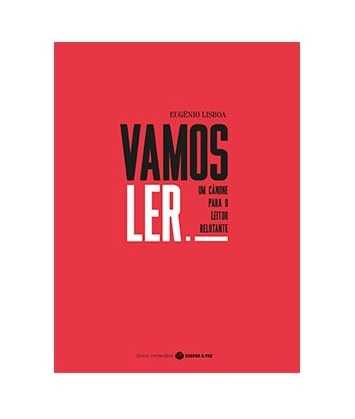 Vamos Ler!
Vamos Ler!
Textos publicados pelo autor
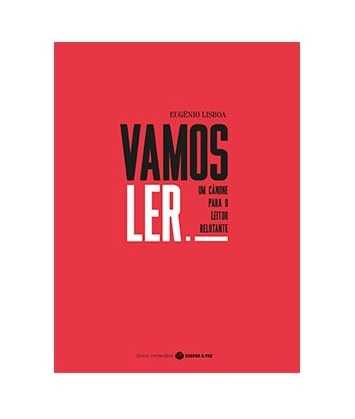 Vamos Ler!
Vamos Ler!
As maiúsculas iniciais de «Muro de Ferro» e «Cortina de Ferro»
Pergunta: Julgo que «Muro de Ferro» se escreve com iniciais maiúsculas. E «C/cortina de F/ferro»?
A dúvida surge-me porque é um conceito que envolve barreiras físicas, mas não palpáveis, digamos assim, a não ser em casos específicos, como o dito Muro de Berlim.
Eu apostaria nas maiúsculas, mas acho mais seguro pedir a vossa opinião.
Saudações.Resposta: Não há regra ortográfica explícita para o caso de «Muro de Ferro», o qual parece corresponder ao conceito criado por Ze'ev Jabotinsky (1880-1940), em O...
A locução adverbial «um tanto ou quanto» II
Pergunta: Na frase «Ele é um tanto quanto lento», seria correto usar a expressão «um tanto quanto», e em caso afirmativo, ela seria classificada como locução adverbial?Resposta: A expressão mais corrente é «um tanto ou quanto», que inclui a conjunção ou e constitui uma locução adverbial.
Com esta forma é uma locução correta, como anteriormente aqui se assinalou, embora de registo lexicográfico escasso. O Dicionário de Expressões Populares Portuguesas (Lisboa, Edições D....
A expressão «doutor da mula ruça»
Pergunta: Acabo de ler, numa crónica de Miguel Esteves Cardoso [em Os Meus Problemas], «esta mula russa gosta que a gente o chame Arquitecto». A minha dúvida prende-se com «mula russa». Deve ser «russa» ou «ruça»? E, já agora, conhecem a origem desta expressão tão interessante, que nunca tinha lido?
Muito obrigado!Resposta: É engano, pelo adjetivo ruça, «(de tom) pardacento ou acinzentado»1, quando referido a animais, e «loiro, castanho-claro», na descrição da cor de cabelo.
Não se sabe ao...
A pronúncia e a grafia de Madagáscar
Pergunta: Por favor, qual a acentuação tónica na palavra Madagascar?
Obrigado.Resposta: Em Portugal, escreve-se Madagáscar, com acento agudo na sílaba -gas-, conforme se pode confirmar pelo Vocabulário da Língua Portuguesa (1966) de Rebelo Gonçalves, e, mais recentemente, pelo Código de Redação do português nas instituições europeias.
Contudo, no Brasil, a forma correta é Madagascar, sem acento...



