Diversidades // Multiculturalismo
Os africanos estão na moda
Afropolitanos, europeus negros e "branquidade"
«(...) A escritora Taye Selasi criou o termo afropolitano para se referir ao africano negro que se tornara globalizado e circula pelas capitais europeias entre a moda, as feiras de arte, as galerias, os concertos, as revistas, os clips, os programas de TV e as stories do Instagram. (...)»
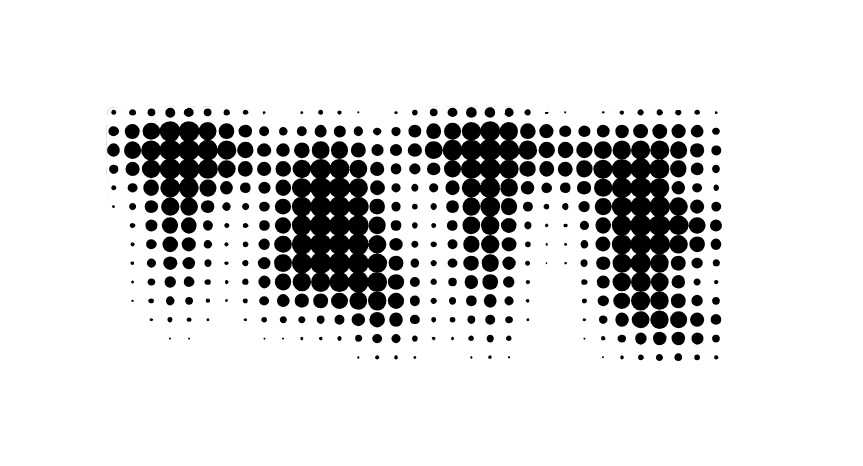 O presentismo reforçado por uma amnésia colectiva relativa à história da presença de africanos na Europa, a ausência de políticas da memória no ensino e na comunicação mediática e uma acelaração vertiginosa do dia-a-dia numa busca obsessiva pela novidade, produzem muitos estragos na percepção das dinâmicas sociais e dão lugar a mitomanias temporárias.
O presentismo reforçado por uma amnésia colectiva relativa à história da presença de africanos na Europa, a ausência de políticas da memória no ensino e na comunicação mediática e uma acelaração vertiginosa do dia-a-dia numa busca obsessiva pela novidade, produzem muitos estragos na percepção das dinâmicas sociais e dão lugar a mitomanias temporárias.
Convoco Roland Barthes e as suas múltiplas análises sobre a moda para afirmar – a propósito do título do artigo – que a moda, é um sistema de signos e como tal, uma "língua", utilizada e reconhecida por um determinado grupo social com vários poderes de decisão a uma escala tendencialmente global. A sua validade é epocal, ou seja, a uma moda sucede-se outra moda, mantendo sempre um conjunto de clichés sobre a inovação e o bom gosto que sustenta a adesão desse grupo. A moda, afirma ainda Barthes, existe porque tem uma complexa máquina com interesses próprios a produzi-la.
A escritora Taye Selasi criou o termo afropolitano para se referir ao africano negro que se tornara globalizado e circula pelas capitais europeias entre a moda, as feiras de arte, as galerias, os concertos, as revistas, os clips, os programas de TV e as stories do Instagram. Mas ao criar este conceito e esta definição resultou numa percepção perversa da presença dos negros subsarianos nesta circulação de “eventos”. Entre estes, é exemplo a excelente exposição na Tate Modern, em Londres – A World in Common: African Contemporary Photography. Mas também entre nós podemos encontrar fenómenos semelhantes em instituições artísticas, galerias de arte, suplementos de jornais – mesmo se entre os quadros destas organizações a presença de negros africanos é escassa ou inexistente – e até o entusiasmo de governantes por "África".
A Tate, uma máquina com invulgar capacidade para produzir e disseminar uma “língua” comum epocal, uma moda, decidiu reduzir toda a diversidade da fotografia que se produz em países africanos e na diáspora a um gueto – o gueto da fotografia africana –, porque a mesma exposição, com outro qualquer título que não tivesse a palavra africano e não reduzisse toda a diversidade da fotografia que é produzida por vários fotógrafos vivendo em África ou nas diásporas, não teria o efeito de novidade, de moda a seguir neste Verão-Outono. Esta moda existirá há duas décadas em alguns países europeus, mas a outra perversão que resulta do conceito de Taye Selasi é a que permite que se exclua deste grupo de afropolitanos todos os africanos que não obtêm os vistos necessários para acederem às capitais europeias, todos aqueles que estão afastados dos circuitos do poder e da possibilidade de serem tomados como um novo exotismo.
 Cabe aqui relembrar como é injusta esta amnésia sobre a presença dos negros na Europa, como é justo recordar que a sua presença data do século II A.C., muitos deles na condição de pessoas escravizadas. Mas também lembrar que foi a partir da década de 20 do século passado que um transculturalismo com deslocações entre Estados Unidos da América, África e Europa impôs um multiculturalismo europeu cosmopolita a que se seguiram as migrações para os ex-impérios europeus de muitos africanos originários das ex-colónias a quem a Europa, e em particular os ex-impérios coloniais, devem a sua riqueza. Nesta fase os africanos nunca estiveram na moda. Pelo contrário, uma invisibilidade social, política e cultural negava a sua presença e a sua participação como cidadãos com direitos e garantias e remetia-os a uma condição de subalternidade tal como são hoje todos os que não têm a possibilidade de estarem na moda.
Cabe aqui relembrar como é injusta esta amnésia sobre a presença dos negros na Europa, como é justo recordar que a sua presença data do século II A.C., muitos deles na condição de pessoas escravizadas. Mas também lembrar que foi a partir da década de 20 do século passado que um transculturalismo com deslocações entre Estados Unidos da América, África e Europa impôs um multiculturalismo europeu cosmopolita a que se seguiram as migrações para os ex-impérios europeus de muitos africanos originários das ex-colónias a quem a Europa, e em particular os ex-impérios coloniais, devem a sua riqueza. Nesta fase os africanos nunca estiveram na moda. Pelo contrário, uma invisibilidade social, política e cultural negava a sua presença e a sua participação como cidadãos com direitos e garantias e remetia-os a uma condição de subalternidade tal como são hoje todos os que não têm a possibilidade de estarem na moda.
A escritora Léonora Miano tem sobre esta questão uma explicação simples e certeira. Repescando o termo whiteness da autoria de Judith Ezekiel, encontra o seu equivalente em blanchité (branquidade!) com uma significação mais extensa. O termo implica a existência de uma relação de subalternidade entre e o ser negro e a blanchité. Blanchité não é uma simples questão de cor, embora remeta, na perspectiva de Miano, para o ocidentalizado, mas é acima de tudo um apetite voraz pelo poder, é um sistema baseado num regime de exclusão e uma instância e um projecto de poder que tem como objectivo o domínio, em particular, dos africanos subsarianos. A blanchité funciona como mecanismo de pressão na identificação do negro feita a partir do exterior. Dizia Dubois que um dos dilemas dos negros é de viverem o conflito da dupla consciência: a consciência do modo como são vistos pela blanchité e a sua identidade, que é sempre múltipla como é comum a todo o ser humano. Independentemente da qualidade da produção dos afrodescendentes patente nas suas longas histórias e heranças culturais, é o modo como a blanchité os percepciona que os remete, ou não, para o sistema de uma moda actual, da qual não serão os principais empreendedores, e que permanecerão eles, as suas obras, a sua presença e a sua condição de africanos e de afroeuropeus e autoridade criativa, depois de a moda passar.
Na imagem, retrato de Juan de Pareja (Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, 1649-50), por Diego Velázquez (1599-1660).
Artigo do ensaísta e programador cultural português António Pinto Ribeiro, rtanscrito, com a devida vénia, do jornal Público e transcrito de 1/11/2023. Escrito segundo a norma ortográfica de 1945.



