Textos publicados pelo autor
A formação de irresolubilidade
Pergunta: Gostaria de saber se a palavra irresolubilidade existe. Aqui, enquanto «qualidade do que é irresolúvel».
Não encontro em dicionários, com exceção do dicionário online Priberam.
Na Internet, encontro entradas referentes a documentos de natureza académica.
Gostaria de ter a certeza que posso usar o termo.
Muito obrigado.Resposta: A palavra está bem formada, a partir de iresolúvel, e por analogia com resolubilidade, derivado de...
As expressões «do dia para a noite» e «da noite para o dia»
Pergunta: Sempre ouvi e li a expressão «da noite para o dia». No entanto, topei agora com um «do dia para a noite».
É também uma expressão correta? A outra é mais "consagrada", digamos assim?
ObrigadoResposta: Ambas as formas se usam e ambas estão corretas, com o significado de «em muito pouco tempo ou muito rapidamente; de um momento para o outro» (cf. dicionário da Academia das Ciências de Lisboa).
No Dicionário de Expressões Correntes, de Orlando Neves, no Dicionário de Expressões Populares, de...
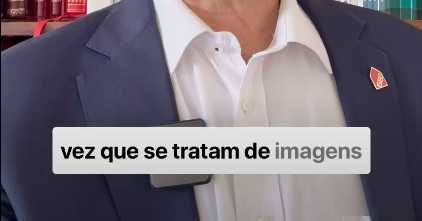 «Trata-se de...», sempre no singular
«Trata-se de...», sempre no singular
Da manipulação de imagem à sintaxe errada
Num comunicado em vídeo, em circulação no Facebook, alguém refere ter a sua imagem sido alterada e utilizada abusivamente para lhe atribuir falsas declarações. A situação é resultado de técnicas de manipulação de imagem (deep fake), e o esclarecimento junta-se a outros alertas do mesmo tipo e com a mesma finalidade. Mas, desta vez, à queixa justa somou-se ainda um irritante erro sintático, como explica o consultor Carlos Rocha num comentário a este caso....
Estatal e estadual
Pergunta: Gostaria de saber por que razão vários dicionários em linha (v.g. Priberam, Infopédia, Dicionário da Língua Portuguesa da Academia das Ciências de Lisboa) e até o próprio Ciberdúvidas registam apenas um único significado para a palavra estadual (definindo-a como se referindo a algo relativo a Estado-membro de uma federação, e, por isso, diferente de estatal) quando a mesma palavra encontra uso em legislação portuguesa.
Uma pesquisa feita a partir do motor de busca...
Consoantes sibilantes e palatais
Pergunta:
Há algum tempo aprendi que, antigamente:
1. z não soava como s intervocálico, isto é, [z];
2. ç (ou ci/ce) não soava como ss/s inicial, isto é, [s];
3. ch não soava como soa habitualmente x, isto é, [ʃ].
Depois, lembrei-me de mais um par parecido de consoantes homófonos:
4. d palatal...



