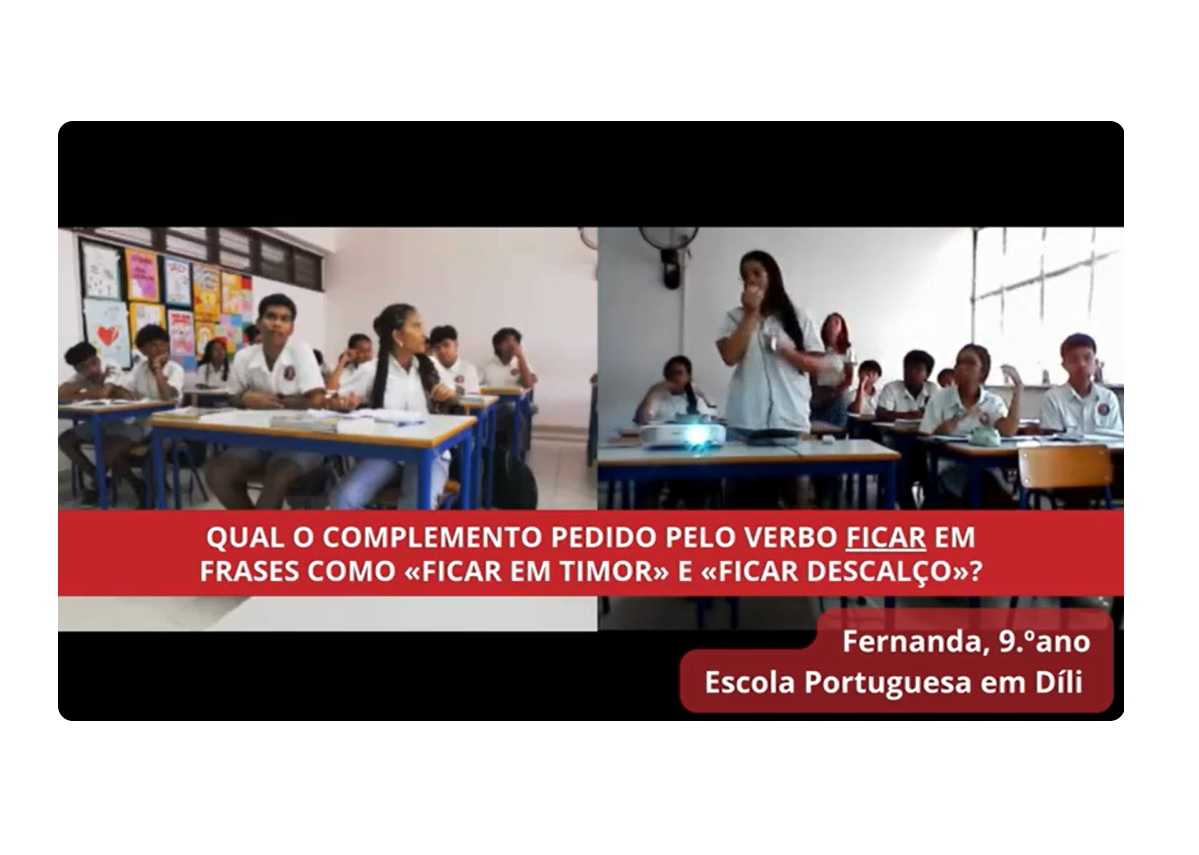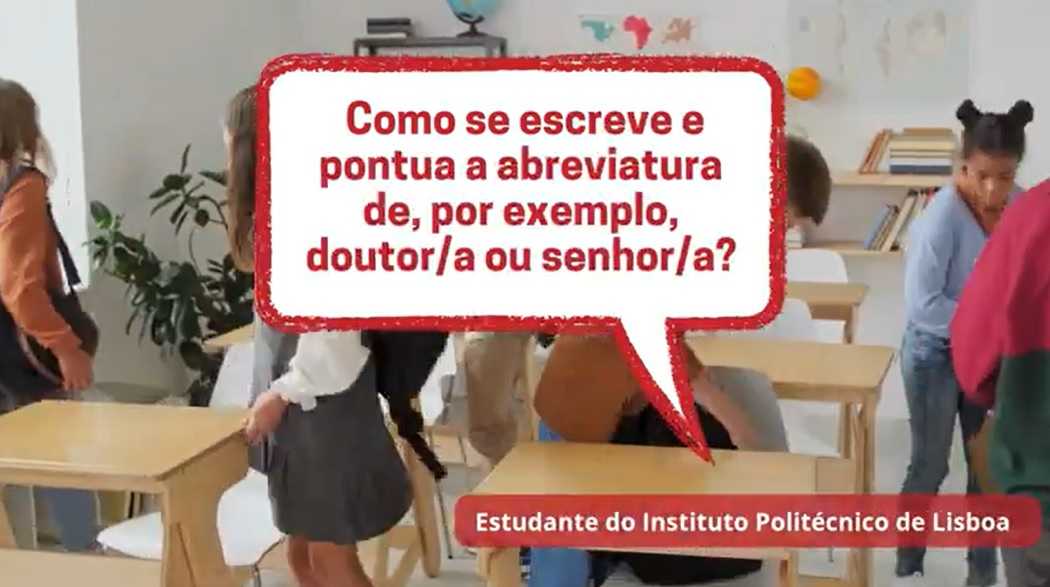 Vídeo 33 – Como se escreve e pontua a abreviatura de, por exemplo, doutor/a ou senhor/a?
Vídeo 33 – Como se escreve e pontua a abreviatura de, por exemplo, doutor/a ou senhor/a?
Textos publicados pelo autor
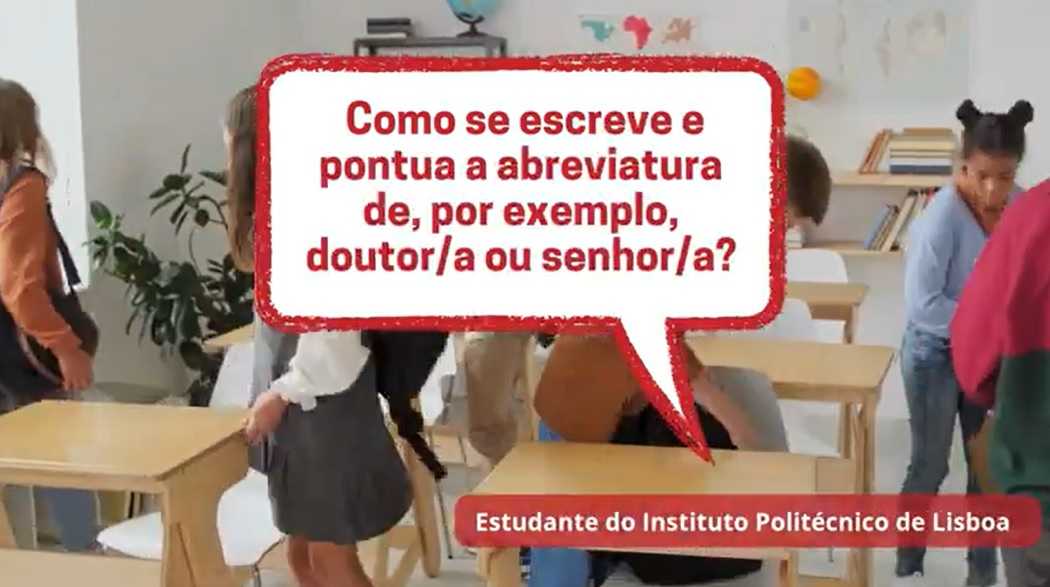 Vídeo 33 – Como se escreve e pontua a abreviatura de, por exemplo, doutor/a ou senhor/a?
Vídeo 33 – Como se escreve e pontua a abreviatura de, por exemplo, doutor/a ou senhor/a?
 Vídeo 29 – Quando levam ou não hífen palavras compostas, como, por exemplo, fim de semana ou guarda-chuva?
Neste novo episódio da rubrica O Ciberdúvidas vai às Escolas, o professor Carlos Rocha, editor executivo do Ciberdúvidas, responde à seguinte questão de um estudante do Instituto Politécnico de Lisboa:
Quando levam ou não hífen palavras compostas, como, por exemplo, fim de semana ou «guarda-chuva»?...
Vídeo 29 – Quando levam ou não hífen palavras compostas, como, por exemplo, fim de semana ou guarda-chuva?
Neste novo episódio da rubrica O Ciberdúvidas vai às Escolas, o professor Carlos Rocha, editor executivo do Ciberdúvidas, responde à seguinte questão de um estudante do Instituto Politécnico de Lisboa:
Quando levam ou não hífen palavras compostas, como, por exemplo, fim de semana ou «guarda-chuva»?...
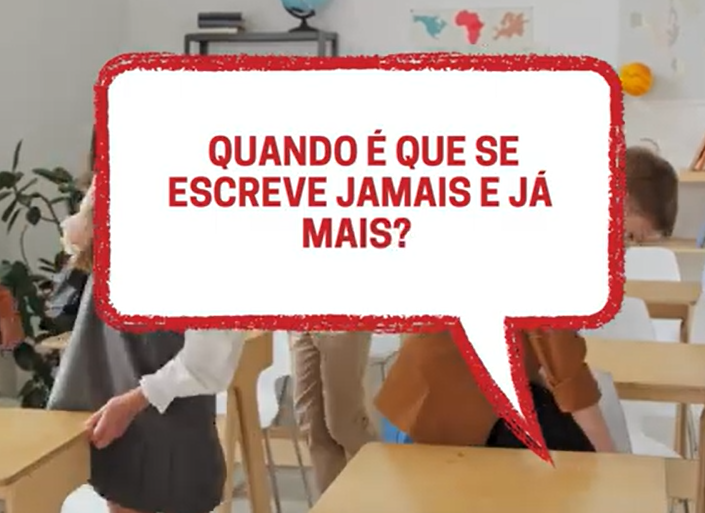 Vídeo 26 – Quando é que se escreve jamais e já mais?
Vídeo 26 – Quando é que se escreve jamais e já mais?
Ortografia
Neste novo episódio da rubrica O Ciberdúvidas vai às Escolas, o professor Carlos Rocha, consultor do Ciberdúvidas, responde à seguinte questão de um estudante do Instituto Politécnico de Lisboa: Quando é que se escreve jamais e «já mais»? ... Vídeo 44 – Estará correto dizer-se «vivo na Fátima»?
Vídeo 44 – Estará correto dizer-se «vivo na Fátima»?