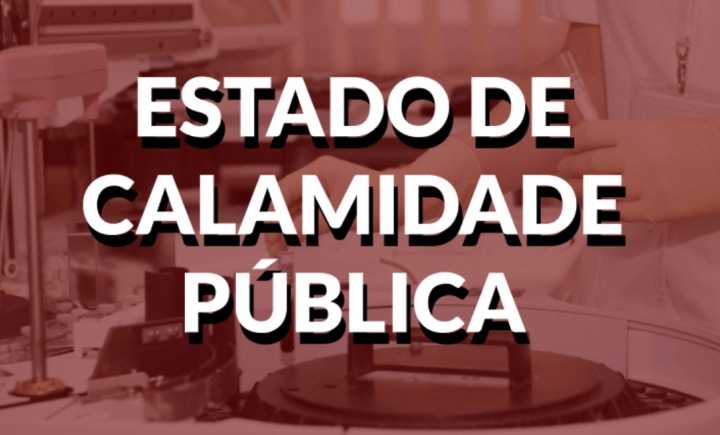 A calamidade e o estado de calamidade
A calamidade e o estado de calamidade
Textos publicados pela autora
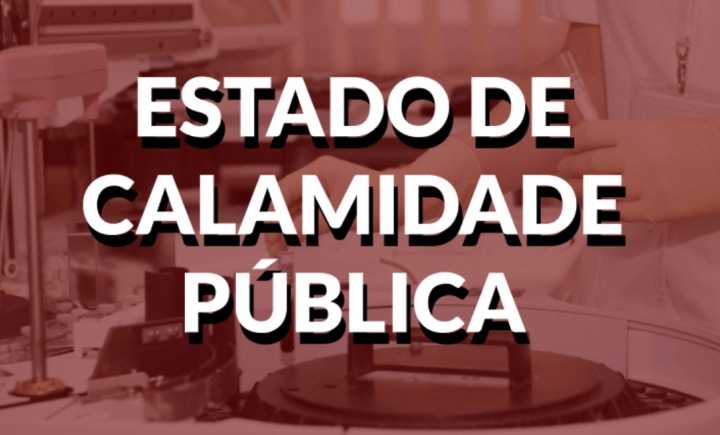 A calamidade e o estado de calamidade
A calamidade e o estado de calamidade
«Quanto mais» vs. «quão mais»
Pergunta: Quero saber se se pode dizer arbitrariamente «quanto mais, melhor», e «quão mais, melhor», sendo que quão é usado antes de adjetivos e advérbios.
Podemos pensar em mais como um advérbio?
Esta pergunta vale tanto para quanto e quão como para tanto e tão.
Obrigado desde já pela vossa atenção.Resposta: A frase «Quão mais, melhor» é incorreta, não podendo funcionar como alternativa a «Quanto mais,...
A expressão «não abrir mão de»
Pergunta: Em "Não abrirei mão de meus sonhos", qual é a predicação verbal. Seria "abrir" um VTDI (verbo transitivo direto e indireto), com OD (objeto direto) «mão» e OI (objeto indireto) «de meus sonhos»?
Obrigado.Resposta: A expressão «abrir mão» com o sentido de ‘renunciar; desistir de algo’ é uma expressão idiomática formada por uma locução fixa, o que significa que o nome mão não poderá ser substituído por outro item lexical.
Podemos considerar que o verbo abrir é acompanhado por um...
Aposto e oração relativa explicativa
Pergunta: «A novidade, ainda em fase de desenvolvimento e liberada em forma de preview para um pequeno grupo de usuários do programa Insider, vai permitir a configuração de perfis.»
O trecho entre vírgulas é uma oração subordinada adjetiva explicativa ou um aposto?
Se esse trecho fosse introduzido por um pronome relativo («a qual ainda está em fase de desenvolvimento e liberada em forma de preview para um pequeno grupo de usuários do programa Insider», por exemplo), haveria alguma mudança de sentido ou na...
A classe de palavras de embora em «embora descontente...»
Pergunta: Na frase «Embora descontente, o Fidalgo entrou na Barca do Inferno», qual a função sintática do segmento «Embora descontente»?Resposta: O constituinte «embora descontente» desempenha na frase a função sintática de modificador do grupo verbal.
Esta função sintática é desempenhada pelos constituintes que não são selecionados pelo verbo, pelo que podem ser retirados da frase sem comprometer a sua gramaticalidade, como se verifica em (1):
(1) «O Fidalgo entrou na Barca do Inferno.»
Já o constituinte «na...



