Literatura // Norma e literatura
Rebelião no uso da língua portuguesa na literatura
Inovações linguísticas e estilísticas dos escritores portugueses
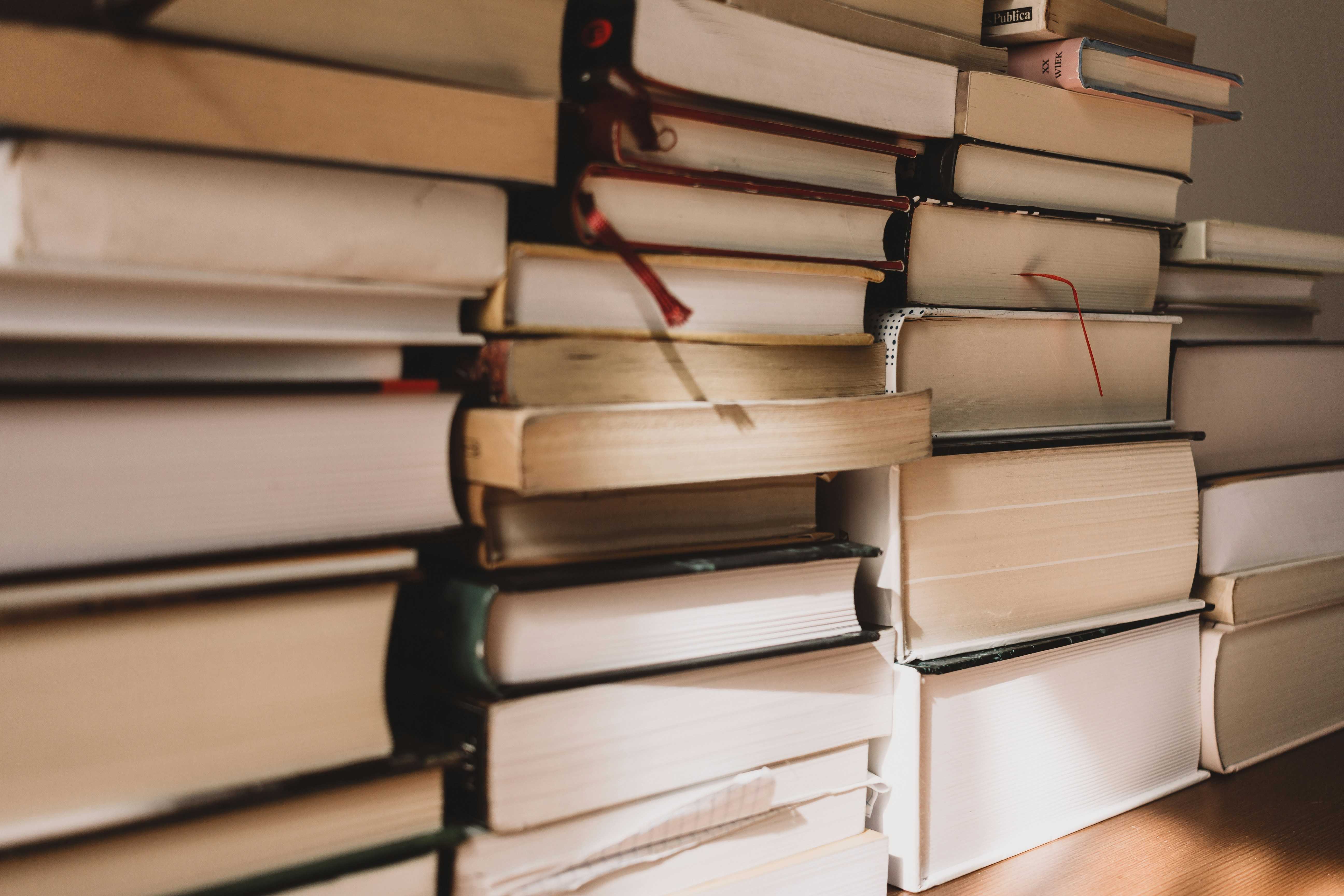 A língua portuguesa, como qualquer organismo vivo, transforma-se, adapta-se e resiste. Na literatura, esta metamorfose é mais do que natural e evidente, é fundamental para a reinvenção da língua como instrumento artístico, identitário e político. Ao longo dos séculos, escritores e escritoras portugueses têm desafiado as convenções linguísticas, reinventando a forma como se escreve, se fala e se pensa em português. Esta rebelião da língua manifesta-se em três frentes principais: a desconstrução da gramática tradicional, a valorização dos falares regionais e a língua enquanto espaço de reflexão e desconstrução dos papéis de género.
A língua portuguesa, como qualquer organismo vivo, transforma-se, adapta-se e resiste. Na literatura, esta metamorfose é mais do que natural e evidente, é fundamental para a reinvenção da língua como instrumento artístico, identitário e político. Ao longo dos séculos, escritores e escritoras portugueses têm desafiado as convenções linguísticas, reinventando a forma como se escreve, se fala e se pensa em português. Esta rebelião da língua manifesta-se em três frentes principais: a desconstrução da gramática tradicional, a valorização dos falares regionais e a língua enquanto espaço de reflexão e desconstrução dos papéis de género.
As regras gramaticais em suspenso: o exemplo de Saramago
O leitor, ao entrar nas obras mais emblemáticas de José Saramago, dá por si a abandonar os sinais de trânsito da gramática tradicional. Pontos finais? Escassos. Travessões? Ausentes. Aspas? Supérfluas. O discurso direto funde-se com o pensamento e a pontuação torna-se um rumor distante. Contudo, nesta aparente desordem há método, pois Saramago cultiva a língua como um agricultor a terra.
Em obras como Levantado do Chão, Memorial do Convento ou Ensaio sobre a Cegueira, o leitor é convidado a esquecer os trilhos seguros da gramática tradicional e a embarcar num fluxo contínuo de pensamento. Esta opção estilística não se manifesta apenas como experimentalismo, mas pode também ser entendida como uma crítica à rigidez da linguagem e uma tentativa de aproximar a escrita da oralidade e da consciência humana.
Para entender a escrita de Saramago, é preciso escutá-la ativamente, quase de forma íntima, como quem ouve uma história contada ao ouvido. Em Saramago, encontra-se a gramática da alma, onde o ritmo importa mais do que a regra.
Os regionalismos de Aquilino Ribeiro e Miguel Torga
Se Saramago é o alquimista da sintaxe, Aquilino Ribeiro e Miguel Torga são os guardiões da fala da terra. Não fossem eles os mestres da incorporação do regionalismo na literatura portuguesa.
Aquilino, com o seu vocabulário beirão, ergue uma linguagem rica em expressões populares. Na sua obra A Casa de Romarigães, o português rural ganha um estatuto literário, sem pedir licença à norma culta. Já que, para este autor, o regionalismo é um elemento estruturante da identidade das personagens e da paisagem literária.
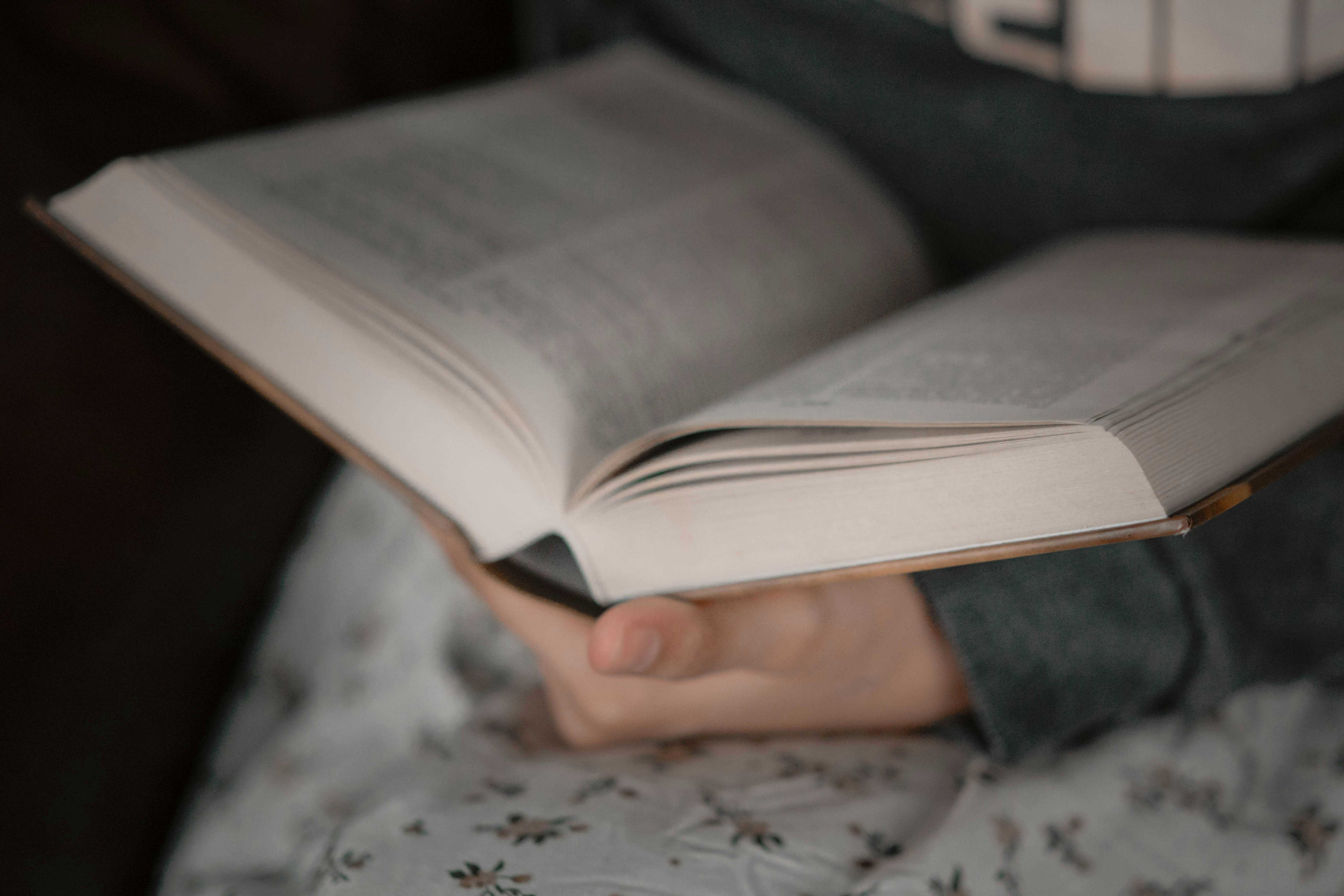 Por sua vez, Miguel Torga escreve com a sobriedade e a força telúrica de Trás-os-Montes. Nos seus Contos da Montanha e Diários é celebrada a dureza e a dignidade da vida rural, com recurso a uma linguagem que, embora literária, preserva o sabor da terra e da fala local.
Por sua vez, Miguel Torga escreve com a sobriedade e a força telúrica de Trás-os-Montes. Nos seus Contos da Montanha e Diários é celebrada a dureza e a dignidade da vida rural, com recurso a uma linguagem que, embora literária, preserva o sabor da terra e da fala local.
No fundo, nestes autores, o regionalismo é uma afirmação de pertença, uma forma de dar voz às margens e dizer que há muitas línguas dentro da língua portuguesa.
Vozes de mulher: a presença do feminino na literatura
E que dizer das mulheres que escreveram contra o silêncio? No século XVIII, Leonor de Almeida Portugal, mais conhecida por Marquesa de Alorna, ousou pensar num tempo em que o talento feminino era trancado em conventos. A sua poesia, embora moldada pela estética neoclássica, revela uma inquietação universal: a busca por uma voz própria. A sua escrita é, portanto, um testemunho da luta pela afirmação intelectual feminina num contexto patriarcal.
Séculos depois, Sophia de Mello Breyner Andresen entrega à língua uma clareza luminosa. A sua escrita é marcada pela ética, pela justiça e pela beleza. Apesar de não se inscrever num discurso feminista militante, dá um importante contributo para a valorização da sensibilidade feminina e para a construção de uma linguagem poética onde o feminino é presença de força.
Em síntese, a literatura portuguesa é um campo fértil do uso experimental da língua, onde se desconstrói a gramática, se celebram os falares regionais e as vozes femininas reclamam espaço e sentido. Em cada caso, a língua é mais do que meio – é matéria viva, moldável e insurgente. E talvez seja esta a grande lição: que escrever é sempre um ato de invenção e que a língua portuguesa, longe de ser estática, é um organismo que perpetua metamorfoses.



