«É necessário um organismo para salvaguardar a língua mirandesa»
Alfredo Cameirão, presidente da Associação da Língua e Cultura Mirandesa
« (...) Portugal nasceu, e as fronteiras linguísticas não coincidiram com a fronteira política, por isso, nesta parte do território falava-se leonês e, apesar de ter sido integrado no novo Reino de Portugal. (...)»
 O mirandês não constitui uma mistura de português com espanhol ou de um dialeto, mas uma língua que tem o seu berço no asturo-leonês falado no Reino de Leão, do qual Portugal se separou aquando da sua fundação enquanto país. Como Alfredo Cameirão, presidente da Associação da Língua e Cultura Mirandesa, refere, «Portugal nasceu e as fronteiras linguísticas não coincidiram com a fronteira política, por isso, nesta parte do território [do nordeste transmontano] falava-se leonês e, apesar de ter sido integrado no novo Reino de Portugal, continuou-se a falar o que sempre se tinha falado até aí, ignorando a situação política».
O mirandês não constitui uma mistura de português com espanhol ou de um dialeto, mas uma língua que tem o seu berço no asturo-leonês falado no Reino de Leão, do qual Portugal se separou aquando da sua fundação enquanto país. Como Alfredo Cameirão, presidente da Associação da Língua e Cultura Mirandesa, refere, «Portugal nasceu e as fronteiras linguísticas não coincidiram com a fronteira política, por isso, nesta parte do território [do nordeste transmontano] falava-se leonês e, apesar de ter sido integrado no novo Reino de Portugal, continuou-se a falar o que sempre se tinha falado até aí, ignorando a situação política».
Mas como se encontra, atualmente, a situação do mirandês? Foi aprovado para o Orçamento do Estado uma dotação de 500 mil euros para dar início ao funcionamento de uma instituição de promoção da língua mirandesa. Alfredo Cameirão explica que há três condições prementes para a salvaguarda do mirandês: a língua devia ser ensinada na escola com a mesma dignidade com que são ensinadas as outras línguas. Apesar do mirandês ser ensinado na escola de Miranda do Douro, trata-se de uma disciplina opcional sem vantagens para o currículo e sem materiais didáticos próprios, uma vez que os existentes provêm da boa vontade dos professores que ensinam a língua. Ainda assim, relembra que 80% dos alunos escolhem ter a disciplina e ressalva o trabalho desenvolvido pela escola e professores. Outra medida essencial passa pela criação de um instituto ou organismo “com a finalidade de salvaguardar a preservação da língua”, assim como a ratificação da Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias. Portugal assinou essa carta em 2021, mas ainda não a ratificou: «[…] A Câmara Municipal de Miranda do Douro comprometeu-se a arcar com a responsabilidade de um eventual acréscimo de despesa que a carta pudesse acarretar, por exemplo, com traduções, mas não há nenhuma razão para Portugal não assinar esta carta. […] Estamos muito distantes do poder central, somos muito poucos e pesamos muito pouco nas decisões que se tomam em Lisboa. É fundamental Portugal assinar esta carta e tomar medidas no terreno», avançou Alfredo Cameirão em entrevista à Comunidade Cultura e Arte (CCA).
O que torna o mirandês uma língua de facto e não só um dialeto?
O mirandês, até sob um ponto de vista académico, [constitui] uma variante da família das línguas leonesas e, hoje, fala-se deste lado da fronteira. Como todas as línguas ibéricas, formou-se e evoluiu ao mesmo tempo do que as outras e, claro, partilha algumas características, tanto com o galaico-português, que se fala na faixa mais ocidental da Península Ibérica, como com o castelhano, que nasceu um pouco mais ao oriente do leonês e que hoje se fala em toda a Espanha. Quando digo castelhano, poderia também dizer espanhol, que é o nome que a língua assume normalmente no contexto internacional. O leonês-mirandês, ou o asturo-leonês, é uma língua com a mesma dignidade dessas duas línguas, já para não falar do catalão e de outra língua qualquer que seja novolatina, ou seja, que evoluiu a partir do latim falado pelos soldados e romanos que andavam por esta parte do território. Existem características e traços que a individualizam em relação ao castelhano e português, mas é claro que partilha com essas duas línguas, porque são vizinhas, muitas outras das suas características fundamentais.
Temos o mirandês, que vem do ramo do asturo-leonês. O nosso português vem do galaico-português (Trás-os-Montes faz fronteira também com a Galiza). Mas quais são as características chave que podem separar estas línguas? Enquanto que em algumas palavras do galaico-português acabamos por suprimir o /N/ entre vogais – por exemplo, luna ficou lua e mano ficou mão, penso que essas características poderiam ter permanecido no mirandês, certo? Outra característica seria a transformação do /L/ em /lh/ nas palavras que, em português, começam com /L/.
Os exemplos que deu para os /N/ são perfeitos. Posso-lhe dar exemplos para os /L/ também. Em palo, que é pau em português, caiu o /L/. Este é um exemplo muito interessante que mostra que a palavra pauliteiro, na sua formação, não é uma palavra da raiz mirandesa. Se falar com os mirandeses mais antigos – os pauliteiros agora estão muito na moda e acaba por ser, um pouco, um contra-senso – mas na terra de Miranda a palavra pauliteiro é um neologismo que entra mais tarde. A palavra mirandesa para pauliteiros era dançadores porque não existiam outros. Dançavam, por isso mesmo aqueles eram os dançadores. Este é um bom exemplo para explicar o que são essas características. Outra especificidade que individualiza mais o mirandês em relação ao português e castelhano: tecnicamente chama-se palatalização inicial, ou seja, a transformação em /LH/ dos sons /L/ iniciais do latim. Por exemplo, a palavra que estava a dizer, lua em português, que seria luna em latim e se mantém luna em castelhano, em mirandês o /L/ inicial palatalizou. Significa que deixou de se pronunciar o /L/ e passou a pronunciar-se o /LH/. Essa palavra em mirandês é lluna.
Quando Portugal se tornou um país independente, não se separou nem de Espanha nem de Castela, separou-se do Reino de Leão, que era o grande reino daquela altura, do século XII. No século XI e XII, o grande reino ibérico era o Reino de Leão. O leonês estava neste território que era também, antes de Portugal nascer, parte integrante do Reino de Leão e estava até na sua parte mais central. Não estamos muito longe da cidade de Leão, a capital desse reino. Portugal nasceu e as fronteiras linguísticas não coincidiram com a fronteira política, por isso, nesta parte do território falava-se leonês e, apesar de ter sido integrado no novo Reino de Portugal, continuou-se a falar o que sempre se tinha falado até aí, ignorando a situação política. Havia um certo isolamento e era muito difícil aos portugueses chegar à terra de Miranda naquela altura e, por isso mesmo, manteve sempre grandes e estreitas ligações com a parte que hoje é Espanha mas, na altura, era parte ainda do Reino de Leão.
Para acrescer a isto, na primeira dinastia portuguesa, a administração e tributação de algumas aldeias que hoje pertencem ao concelho de Miranda do Douro foram doadas a dois mosteiros leoneses que, hoje, em Espanha, são o mosteiro de San Martín de Castañeda, próximo da Sanábria, e o mosteiro de Santa Maria de Moreruela, a norte de Zamora. Eram os frades desses mosteiros que recolhiam o tributo. O facto de falarem leonês ajudou a que as pessoas continuassem a falar o que sempre tinham falado. Esse foi também um factor que permitiu que a língua se mantivesse. O próprio facto de o mirandês ser uma língua, não um dialeto, e possuir uma estrutura interna coerente e estável, uma gramática lógica, permitiu que fosse transmitido de geração em geração durante centenas de anos, sem precisar de ser escrito nem do recurso da escola. É esta estrutura interna que faz com que seja uma língua. Qualquer português pode dizer se uma frase portuguesa está correta ou não. Por exemplo, se ouvir uma frase em português, consegue dizer se essa frase tem ou não algum erro, sem até saber qual o erro que tem. O mirandês também faz isso. Mesmo sem saber gramaticalmente que erro é esse, pode dizer que não é mirandês.
Foi aprovado para o Orçamento do Estado uma dotação de 500 mil euros para dar início ao funcionamento de uma instituição de promoção da língua mirandesa. Como olha para esta medida? Vai ser útil?
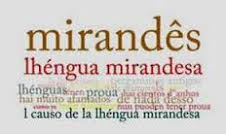 José Leite Vasconcelos, não vou agora contar a história toda, apresentou o mirandês ao mundo e disse que em Portugal se falava outra língua além do português: não um dialecto, não uma mistura do português e espanhol, mas uma outra língua. Aquilo causou uma certa efervescência, mas o pó assentou e os mirandeses foram, durante todo o século XX, muito esquecidos e o mirandês teve muita pouca importância, à excepção de António Maria Mourinho, um padre da terra de Miranda que foi escrevendo e sempre lutando por dar alguma vitalidade à cultura e língua mirandesa. No final do século XX, a partir dos anos 80, em 1986, o mirandês começou a ser implementado na escola de Miranda nos quintos e sextos ano. Essa foi uma medida muito importante, até pelo facto de ter provocado uma mudança de mentalidade e da forma como se olhava para o mirandês. Até aí, havia um grande estigma: o mirandês era a fala da gente inculta, de pessoas que nem sequer sabiam falar português. Havia muitos estigmas. A partir daí, abriu-se um caminho e surgiram novas possibilidades. No entanto, o mirandês tem vindo a perder falantes, diria quase naturalmente, porque a pressão do português, da comunicação social, da escola e da sociedade em geral faz com que o português se vá universalizando ali naquela região.
José Leite Vasconcelos, não vou agora contar a história toda, apresentou o mirandês ao mundo e disse que em Portugal se falava outra língua além do português: não um dialecto, não uma mistura do português e espanhol, mas uma outra língua. Aquilo causou uma certa efervescência, mas o pó assentou e os mirandeses foram, durante todo o século XX, muito esquecidos e o mirandês teve muita pouca importância, à excepção de António Maria Mourinho, um padre da terra de Miranda que foi escrevendo e sempre lutando por dar alguma vitalidade à cultura e língua mirandesa. No final do século XX, a partir dos anos 80, em 1986, o mirandês começou a ser implementado na escola de Miranda nos quintos e sextos ano. Essa foi uma medida muito importante, até pelo facto de ter provocado uma mudança de mentalidade e da forma como se olhava para o mirandês. Até aí, havia um grande estigma: o mirandês era a fala da gente inculta, de pessoas que nem sequer sabiam falar português. Havia muitos estigmas. A partir daí, abriu-se um caminho e surgiram novas possibilidades. No entanto, o mirandês tem vindo a perder falantes, diria quase naturalmente, porque a pressão do português, da comunicação social, da escola e da sociedade em geral faz com que o português se vá universalizando ali naquela região.
As duas coisas que diria que são as mais necessárias e possíveis para travar o eventual desaparecimento do mirandês numa língua viva, numa língua falada, são as seguintes: é necessária a criação de um organismo com a finalidade de salvaguardar a preservação da língua. Podemos chamar de instituto ou fazer uma configuração jurídica qualquer. Já foi previsto no orçamento de 2023 uma dotação orçamental de cem mil euros, mas não se concretizou. Voltou a ser uma lei do orçamento de 2024 com uma dotação de duzentos mil euros para a criação do instituto, e no Orçamento de 2025 foi aprovada também uma dotação orçamental de quinhentos mil euros para a preservação, desenvolvimento e salvaguarda do mirandês.
A criação dessa entidade é absolutamente fundamental. Ao mesmo tempo, e também tão necessário como isto, seria preciso que Portugal ratificasse, finalmente, a Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias. Esta Carta Europeia é um documento do Conselho da Europa que já foi publicado em 1992. Essa carta tem uma série de alíneas, medidas, para salvaguardar e resguardar as línguas minoritárias dos diversos países. Os diferentes países, ao assinar e ratificar esta carta, comprometem-se a ter no terreno o mínimo de 35 dessas medidas. Trata-se de uma política europeia de preservação das línguas regionais e minoritárias. Portugal assinou esta carta em 2021, mas ainda não a ratificou. A ratificação é que permite que essas medidas possam ser implementadas no terreno. Este passo não só é necessário, mas urgente.
Mas porque acha que essa ratificação está a demorar tanto, se a carta foi assinada em 2021?
Esta é uma carta que implica, desde logo, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura e o Ministério dos Negócios Estrangeiros que tutela o Instituto Camões, uma vez que a carta é um tratado internacional. Implica o trabalho dos três ministérios. Não há razões para Portugal não ratificar esta carta. A maior parte destas medidas já estão no terreno e a ser implementadas. Não implica um acréscimo da despesa porque a Câmara Municipal de Miranda do Douro comprometeu-se a arcar com a responsabilidade de um eventual acréscimo de despesa que a carta pudesse acarretar, por exemplo, com traduções, mas não há nenhuma razão para Portugal não assinar esta carta.
A única razão que podemos supor é que estamos muito distantes do poder central, somos muito poucos e, portanto, pesamos muito pouco nas decisões que se tomam em Lisboa. É fundamental Portugal assinar esta carta e tomar medidas no terreno.
O mirandês foi uma língua perseguida durante o Estado Novo. Numa altura em que a língua é reconhecida, nota que ainda há consequências dessa altura no que diz respeito ao número de falantes e na forma como a língua é falada?
Até à publicação da lei que veio apagar esse sentimento, houve uma certa mudança na mentalidade dos mirandeses da maneira como olhavam para a língua. Deixaram de ter vergonha de falar mirandês – alguns deles, outros nunca tiveram, na verdade – mas pode dizer-se que se deixou de ter vergonha de falar o mirandês porque deixou de ser um português mal falado e uma mistura de português e espanhol para passar a ser outra língua. Os mirandeses deixaram de falar mal para falar diferente e isso foi absolutamente fundamental. Há um antes e um depois da lei. Acho que é um bom exemplo. O mirandês é hoje ensinado no agrupamento de escolas de Miranda do Douro como disciplina de opção, uma vez por semana. Como disciplina de opção que é, uma disciplina extracurricular, digo que não conta para nada na construção do currículo.
Apesar disso tudo, de não haver materiais, um programa oficial e o mínimo de apoio, os professores de mirandês conseguem que 79% dos alunos, vamos dizer 80%, escolham ter mirandês como disciplina de opção, o que é extraordinário. Significa que quando questionados se preferem ter mais uma hora de aula ou ir para o recreio jogar à bola, 80% dos meninos mirandeses – e os pais com certeza – escolhem ter mirandês. Na minha perspectiva, isto mostra bem duas coisas: por um lado, o trabalho absolutamente extraordinário dos professores na escola que conseguem chegar a estes números, e da própria escola. Penso que traduz bem o carinho e o amor que os mirandeses têm para com a sua língua e cultura.
Um dos problemas apontados é precisamente a falta de material didático, tal como livros escolares. Esse material, de alguma forma, também tem de vir da vontade dos professores que dão a matéria. Mas o que falta para se poder ter acesso a esses materiais escolares? Como é que o problema pode ser resolvido?
Neste momento há três professores de Mirandês no meu grupo de escola. Falta, por exemplo, que algum dos professores possa ter créditos horários, horas de trabalho que possa dedicar à construção desses mesmos manuais didáticos. Tem de haver gente e não vamos estar com lirismos, isto não se faz só com boa vontade. Tem de haver gente que possa ser remunerada para a construção desses mesmos materiais. Quero relembrar que a construção desses mesmos materiais, neste momento mesmo, é um trabalho de alta especialização porque não há muita gente que possa construir materiais didáticos em língua mirandesa. Trata-se de um trabalho que exige vários conhecimentos, desde logo da língua e, depois, de pedagogia didática. A pessoa tem de saber o que está a fazer. Por isso é que o instituto e a dotação financeira são fundamentais para a construção desses recursos. É preciso publicar o dicionário, também, e são precisos recursos e dinheiro. Só com boa vontade não se vai lá.
Estamos a falar de uma língua oral, falada, que foi sendo transmitida sem recursos escritos. Como é que agora se pode partir para a construção de mais materiais didáticos?
Tem de haver uma política linguística que defina o que queremos, o que falta fazer, como é que se vai fazer, quem vai fazer e onde está o dinheiro para pagar isso. Repito mais uma vez, não pode ser só com boa vontade. A RTP Ensina já disponibiliza muitos conteúdos em língua mirandesa, mas teve de haver gravações. Para essas gravações temos de ter os aparelhos, gente que gaste tempo a gravar, a traduzir o português para mirandês, se for o caso, e tem de haver gente a trabalhar, professores, criadores de conteúdos, produtores ou que quisermos chamar. Quantas mais pessoas trabalharem para o mirandês, melhor.
Mas para termos essa gente, têm de existir recursos, sejam recursos públicos do poder local ou do poder central, ou até de eventuais mecenas que queiram ajudar. Mas sem uma política linguística, sem as pessoas, sem os recursos humanos, nada se pode fazer. Existem algumas ideias que não estão absolutamente concertadas. Por essa razão faz falta também a tal entidade para as pessoas sentarem-se e dizerem o que vão fazer de concreto: “Temos estes recursos humanos, materiais e financeiros e vamos avançar por aqui.” Só assim é que as coisas poderão caminhar com passos firmes, porque caso contrário andaremos sempre às apalpadelas.
 Foquei estes materiais culturais mais como um todo, porque penso que o interessante seria uma maior projeção do mirandês não só na zona do planalto e em Miranda, mas também para o resto da região de Trás-os-Montes e para o próprio país. Seria interessante que os falantes de português criassem uma maior familiaridade com esta língua.
Foquei estes materiais culturais mais como um todo, porque penso que o interessante seria uma maior projeção do mirandês não só na zona do planalto e em Miranda, mas também para o resto da região de Trás-os-Montes e para o próprio país. Seria interessante que os falantes de português criassem uma maior familiaridade com esta língua.
A associação a que pertenço esteve num seminário em Lisboa, organizado pelo Instituto Camões, exatamente para isso. Quando se pensa em Portugal nem sequer se pensa no mirandês, mas o Instituto Camões trata igualmente a cultura portuguesa que também tem o mirandês. Por isso mesmo pode ser um bom veículo para difundir não só o português, mas um pouco por todo o mundo e pelas comunidades portuguesas também a língua mirandesa.
O mirandês também tem canções populares, as suas histórias e lendas. Há material cultural que vem da própria população. Está a ser feito algum trabalho de recolha desse património cultural também?
Quanto à música, aqui em cima temos vários grupos que interpretam excelentemente e que tratam a música mirandesa mais tradicional e mais contemporânea muito bem. É um grande veículo de disseminação e uma ótima forma de dar a conhecer a língua e a cultura mirandesa. Os mais conhecidos são os Galandum Galundaina, mas há outros bons grupos, os próprios Pica Tumilho. Há muitos grupos e eles próprios fazem as recolhas, o tratamento desses dados e das composições mais antigas e tradicionais. No entanto, a associação da qual eu faço parte, a Associação da Língua e Cultura Mirandesa, está a desenvolver um projeto de recolha de língua viva, ou seja, a recolha de conversas com as pessoas. Desta forma está-se a recolher não só a língua, mas também as tradições, os saberes, as festas, a maneira como se trabalhava o campo, o trato com os animais, toda a cultura mirandesa, no sentido lato. Somos muito poucos para esse trabalho, mas mesmo sendo poucos já vamos com cerca de 130 horas de gravação feitas, que são destinadas a estarem gravadas e armazenadas para quem mais tarde quiser ouvir: primeiro faz-se a transcrição do que é dito e mais tarde a transcrição fonética dessas recolhas que estão a ser feitas. Só para lhe dar um exemplo, este projeto começou em 2020, antes da pandemia, depois houve aquele interregno, mas duas ou três das pessoas que foram gravadas já faleceram. Este é um trabalho que não só é necessário para recolher a língua e a cultura, como é urgente porque como costumamos dizer, as bibliotecas estão a arder, ou se recolhem agora ou mais tarde já não vai ser possível.
As pessoas mais velhas das aldeias são os grandes bastiões da língua mirandesa.
Esse é um trabalho que está a ser feito e é urgente também, para mais tarde poder ser estudado, trabalhado e transformado em material didático.
Mas pode-se dizer que a língua está mais viva de forma orgânica nas freguesias? Se for mesmo a Miranda do Douro, por exemplo, posso notar na conversa com as pessoas que a língua ainda está viva?
É provável que em Miranda do Douro se possa ouvir mirandês, até porque a mentalidade em relação ao mirandês já mudou. Um dos grandes revezes da língua mirandesa enquanto língua, sobrevivência e manutenção foi, por exemplo, a vinda do bispo, no século XVI, para Miranda do Douro, porque o bispo e a sua comitiva com aqueles eclesiásticos todos, com as escolas e colégios, foi uma grande marretada e agudizou e inflamou muito a vergonha de falar mirandês com essa gente que só falava português. Isso foi um grande revés, tal como a construção das barragens, quando vieram milhares de falantes de português do resto do país para trabalhar na construção, mas olhavam para os falantes de mirandês como falantes de mau português, ignorantes que não sabiam falar português, ou que falavam um português misturado com espanhol. Do ponto de vista da língua foram dois momentos muito negativos. Hoje, isso já não se verifica, as pessoas não têm vergonha de falar mirandês. O que noto bastante é vergonha de falar mal ou não saber falar mirandês. Querem e até sabem falar, mas depois têm vergonha de dar umas calinadas e retraem-se um pouco.Mas respondendo à sua pergunta, em Miranda do Douro é possível, hoje, ouvir falar mirandês com alguma frequência e nas aldeias muito mais, com certeza. Nas aldeias, normalmente, o mirandês é a língua materna das pessoas mais idosas. Se aparecer um estranho, não falam mirandês com essa pessoa, mas ao falar com os vizinhos, falam bastante o mirandês.
O mirandês tem diferentes variantes? Há diferenças de zona para zona?
Mesmo a nível do vocabulário, numa aldeia pode utilizar-se um determinado termo, na aldeia do lado pode utilizar-se outro, mas essas diferenças são mínimas. Do ponto de vista dos académicos, das pessoas que estudam mirandês, há três variantes principais: a variante mais a norte do concelho, a parte central do concelho de Miranda que apanha as aldeias de Vimioso em que se fala mirandês também – esse é o mirandês central, que passa por ser o mirandês padrão – e depois a terceira variante é o mirandês falado em Sendim, ou se lhe quiser chamar, o sendinês que tem ainda outras diferenças em relação às outras duas variantes. Contudo, as diferenças não são tão grandes que permitam, por exemplo, serem tratadas como um dialeto. É mirandês na mesma, mas com algumas características um pouco diferentes.
Há uns anos saiu um estudo muito falado da Universidade de Vigo que concluiu que há 3500 falantes da língua mirandesa atualmente. Pelo o que já disse nesta entrevista, acha que agora este número poderá ser maior? Poderá ser menor? Será justo? Não será justo?
Em 2020, dizia que haveria entre três mil e três mil e quinhentos falantes ativos. Hoje, haveria cerca de 1.500 pessoas que também poderiam falar o mirandês querendo. Não o falam porque não o querem, mas se quisessem poderiam falar a língua também. Não me vou atrever a desdizer este estudo, prefiro é focar-me em outros dois aspectos. Por um lado, também é uma conclusão do estudo dizer que o mirandês é um assunto que é muito bem visto na população mirandesa.
Os mirandeses gostam muito da língua e é um tema para o qual se olha de forma muito positiva, principalmente as gerações mais novas. Mesmo que não o falem, acham que o mirandês tem um valor cultural muito importante e defendem a existência do mirandês: isso é muito bom. Por outro lado, e também é uma das conclusões do estudo, ou Portugal toma medidas muito enérgicas e a sério para a preservação do mirandês, ou nas próximas décadas pode desaparecer como língua viva, língua falada, e fica uma espécie de relíquia como hoje é o latim. Prefiro focar-me nestes dois aspectos: por um lado, o mirandês é visto com muito bons olhos pelos mirandeses e, pela experiência que tenho, por todos os portugueses e ibéricos. Por outro lado, há que fazer coisas a sério porque, caso contrário, o mirandês pode eventualmente entrar num caminho de não retorno. Isso é preocupante.
Enquanto professor, nota que o ensino desta língua também tem contribuído para uma maior ligação cultural entre os netos e os avós?
Repito mais uma vez, o trabalho dos professores na Escola de Miranda é absolutamente extraordinário e fantástico. Apesar de ser só uma hora por semana e de ser uma disciplina extracurricular, com certeza que o facto de existir o mirandês na escola e a forma como é trabalhado junto das novas gerações é um dos fatores para os resultados que indicam que as novas gerações mirandesas olham para a língua e para o professor de mirandês com muito bom joelho. Alguma dessa percentagem dever-se-á ao trabalho dos professores de mirandês e da própria escola. É cada vez mais fundamental que o mirandês exista na escola, porque na medida em que nas famílias se fala menos mirandês, a escola ganha um papel ainda mais importante nessa transmissão da língua para as novas gerações. Na minha opinião, o ensino do mirandês na Escola de Miranda devia não só intensificar-se, como até dignificar-se, abrindo a possibilidade do mirandês poder ser uma disciplina curricular. Dito de outra forma, que o mirandês pudesse ser uma disciplina a sério, com a mesma dignidade e na mesma posição das outras línguas que são ensinadas na escola.
Estamos a falar de uma língua que até há bem pouco tempo não tinha recursos escritos. Quais foram os desafios na construção de uma gramática para uma língua que foi, sobretudo, falada?
 O passo que foi dado para a codificação da escrita do mirandês foi ao mesmo tempo em que se publicava a lei da convenção ortográfica da língua mirandesa. Trata-se de um trabalho que começou em 1995 e acabou em 1999 com a sua publicação, desenvolvido por alguns mirandeses falantes e alguns dos melhores linguistas portugueses como, por exemplo, a professora que, infelizmente, já deixou de estar entre nós, a professora Manuela Barros Ferreira. Alguns dos melhores linguistas portugueses e alguns mirandeses falantes, que passaram a ser informantes, construíram a convenção ortográfica da língua mirandesa, que é uma espécie de protogramática que estabelece regras básicas de como se deve escrever em mirandês. Isso foi fundamental no ensino do mirandês, porque imagine alguém ensinar uma língua sem haver regras instituídas de como aquela língua se escreve. É a convenção ortográfica que necessita de um aprofundamento e de um alargamento, mas que estabelece aquelas regras mais básicas para se poder escrever em mirandês. Isto empresta à língua muita mais dignidade e é uma ferramenta que permite que eu ou outro mirandês qualquer saibamos o que estamos a fazer quando escrevemos em mirandês. Isso foi absolutamente fundamental. A partir da lei e da convenção, em 1999, notou-se quase um boom de escritores e de gente a publicar a língua mirandesa, principalmente nos jornais locais, onde passou a haver mirandês todas as semanas.
O passo que foi dado para a codificação da escrita do mirandês foi ao mesmo tempo em que se publicava a lei da convenção ortográfica da língua mirandesa. Trata-se de um trabalho que começou em 1995 e acabou em 1999 com a sua publicação, desenvolvido por alguns mirandeses falantes e alguns dos melhores linguistas portugueses como, por exemplo, a professora que, infelizmente, já deixou de estar entre nós, a professora Manuela Barros Ferreira. Alguns dos melhores linguistas portugueses e alguns mirandeses falantes, que passaram a ser informantes, construíram a convenção ortográfica da língua mirandesa, que é uma espécie de protogramática que estabelece regras básicas de como se deve escrever em mirandês. Isso foi fundamental no ensino do mirandês, porque imagine alguém ensinar uma língua sem haver regras instituídas de como aquela língua se escreve. É a convenção ortográfica que necessita de um aprofundamento e de um alargamento, mas que estabelece aquelas regras mais básicas para se poder escrever em mirandês. Isto empresta à língua muita mais dignidade e é uma ferramenta que permite que eu ou outro mirandês qualquer saibamos o que estamos a fazer quando escrevemos em mirandês. Isso foi absolutamente fundamental. A partir da lei e da convenção, em 1999, notou-se quase um boom de escritores e de gente a publicar a língua mirandesa, principalmente nos jornais locais, onde passou a haver mirandês todas as semanas.
Há diferença entre o mirandês falado na parte da fronteira portuguesa e o leonês falado na parte da fronteira espanhola?
Neste momento, há diferenças. O que no passado mais longínquo era uma só língua, depois, à mercê da passagem dos séculos e da passagem do tempo, o mirandês ficou sujeito à pressão do português, enquanto que o leonês que se fala do lado de lá ficou sujeito à pressão do castelhano por via dos meios de comunicação social, jornais, televisões e rádios, essas coisas. À mercê destas pressões, o mirandês que hoje se fala deste lado da fronteira e o leonês que se fala do outro, que já foram a mesma língua no passado e que têm a mesma genética, a mesma matriz, hoje são línguas substancialmente diferentes e com diferenças visíveis. Ainda assim, são fundamentais. A genética, volto a dizer, é a mesma e com certeza que os falantes se entendem muito bem entre eles. Por exemplo, se for às astúrias onde se fala o asturiano, e se for a uma aldeia asturiana e falar com eles em mirandês – já fiz esta experiência algumas vezes e já vi fazer com outros mirandeses – eles ficam a olhar para ti a pensar de onde é que este tipo vem, que fala aqui uma coisa que não é asturiana, mas parece quase asturiana. É exatamente isso que acontece. No presente já estão um pouco mais afastadas, mas ainda se entendem entre elas e os traços fundamentais continuam a ser os mesmos.
Entrevista ao presidente da Associação da Língua e Cultura Mirandesa, Alfredo Cameirão, conduzida pelaornalista Ana Monteiro Fernandes, publicada em 16 de fevereiro de 2025 na revista digital Comunidade, Cultura e Arte. Texto escrito segundo a norma ortográfica de1945.



