Textos publicados pelo autor
Objeto direto oracional e predicativo do objeto
Pergunta: Na frase «A paciência torna mais leve o que não é possível remediar», temos o objeto direto do verbo tornar na forma oracional («o que não é possível remediar») e o predicativo do objeto («mais leve»).
Dentro da oração subordinada substantiva objetiva direta há uma oração subordinada adjetiva restritiva, com o pronome relativo que, retomando o demonstrativo o, que, por sua vez, é qualificado pela oração restritiva («aquilo que não é...
Oração reduzida de particípio
Pergunta: «Publicado em 1967, o livro causou transformações profundas na sociedade.»
Sempre tive dúvidas em relação ao que significa, semântica e gramaticalmente, o termo «publicado em 1967».
Seria um adjunto adnominal? Seria um predicativo do objeto? Seria uma espécie de oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio, ou, quem sabe, uma oração subordinada adjetiva restritiva?
Eu ficaria imensamente feliz se pudessem sanar essa dúvida.
Muito obrigada, e Deus abençoe!Resposta: Segundo os modelos...
A expressão «se é que...»
Pergunta: Quanto à expressão «se é que», por que outras é que pode ser substituída?
«Ela disse que tudo se passou assim, se é que se pode confiar nela.»
Muitíssimo obrigado!Resposta: O segmento «se é que» funciona como um marcador de dúvida ou de desconfiança em relação ao que foi dito antes. Na frase «Ela disse que tudo se passou assim, se é que se pode confiar nela», o enunciador da frase mostra que não está totalmente certo da confiabilidade dela.
Assim, com leves alterações na reescrita, é possível substituir «se é que» por...
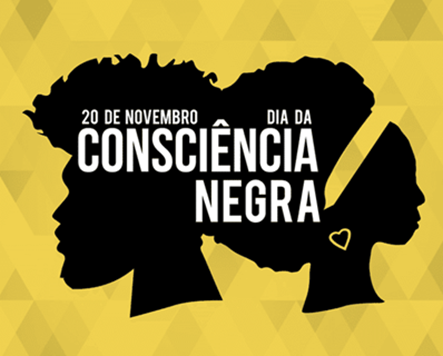 A influência africana no português do Brasil
A influência africana no português do Brasil
A propósito do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro
«Os africanos não aprenderam português escolarmente: aprenderam sob violência, improviso e urgência – o que, inevitavelmente, gerou simplificações estruturais nos domínios fonético, morfológico e sintático» – refere o gramático Fernando Pestana, no contexto da comemoração do Dia da Consciência Negra em 20 de novembro. Trata-se de uma síntese do capítulo 4 do livro A língua do Brasil, do linguista Gladstone Chaves de Melo, aqui transcrita com a devida vénia do mural de Facebook (20/11/2025) do...
A classe de palavras de tampouco
Pergunta: Consultei vários dicionários e todos colocam o termo tampouco exclusivamente como advérbio («também não»).
Porém, não aceito muito bem a "exclusividade", pois o termo possui um significado parecido com nem e, em muitas vezes, fica no meio de orações coordenadas (posição preferencial das conjunções) Ex.:
«Ele não trabalha tampouco estuda.»(G1)
«Não gosto da Maria, tampouco da Joana.» (Ciberdúvidas)
Eu consigo reescrever perfeitamente as frases com o...



