vs. «conversas de café superficiais» Pergunta: Escrevi um artigo cujo título é "Conversas Superficiais de Café". Fiquei com dúvidas se o adjectivo[1] deveria ser colocado no fim e se os elementos que formam o substantivo composto deveriam ser separados por hífen. Obrigado. [1 N.E. – O consulente parece seguir a ortografia anterior à atualmente vigente.]Resposta: A ordem dos constituintes que acompanham o nome depende da intenção do locutor. No caso em apreço, e segundo a minha interpretação, ambos os constituintes que...
Textos publicados pela autora
«Conversas superficiais de café»
vs. «conversas de café superficiais» Pergunta: Escrevi um artigo cujo título é "Conversas Superficiais de Café". Fiquei com dúvidas se o adjectivo[1] deveria ser colocado no fim e se os elementos que formam o substantivo composto deveriam ser separados por hífen. Obrigado. [1 N.E. – O consulente parece seguir a ortografia anterior à atualmente vigente.]Resposta: A ordem dos constituintes que acompanham o nome depende da intenção do locutor. No caso em apreço, e segundo a minha interpretação, ambos os constituintes que...
vs. «conversas de café superficiais» Pergunta: Escrevi um artigo cujo título é "Conversas Superficiais de Café". Fiquei com dúvidas se o adjectivo[1] deveria ser colocado no fim e se os elementos que formam o substantivo composto deveriam ser separados por hífen. Obrigado. [1 N.E. – O consulente parece seguir a ortografia anterior à atualmente vigente.]Resposta: A ordem dos constituintes que acompanham o nome depende da intenção do locutor. No caso em apreço, e segundo a minha interpretação, ambos os constituintes que...
«Então» conclusivo
Pergunta: É admissível usar então com valor de conjunção conclusiva?
«Um homem de muito luxo. Era, então, muito rico.»Resposta: A utilização de então como conector de valor conclusivo é aceitável.
Tipicamente, então tem um valor temporal próximo de «nesse momento/nessa altura», como se observa em (1):
(1) «O João começou a ler. Então, tocaram à porta.»
Então pode também ter um valor argumentativo, no qual funciona como um conector...
O modificador restritivo do nome na expressão «detetive do passado»
Pergunta: Na frase «meticuloso detetive do passado, este homem foi um gigante na construção da nossa identidade», a expressão «do passado» desempenha a função sintática de complemento ou modificador do nome?
Desde já o meu muito obrigada.Resposta: O constituinte «do passado» tem a função sintática de modificador do nome restritivo.
Note-se que, habitualmente, os nomes de profissões ou de atividade necessitam de um complemento que especifique essa mesma atividade ou profissão1. É o caso, por exemplo, de «porteiro...
Um caso de hipálage na poesia de Álvaro de Campos
Pergunta: Pode considerar-se que se encontra uma hipálage no seguinte verso de Álvaro de Campos: «Trago o meu tédio e a minha falência fisicamente no pesar-me mais a mala...»?
Grato.Resposta: No verso de Álvaro de Campos «Trago o meu tédio e a minha falência fisicamente no pesar-me mais a mala» (pertencente ao poema de Álvaro de Campos “Notas sobre Tavira”) está presente uma hipálage.
A hipálage «consiste na atribuição a um objecto de uma característica que, na realidade, pertence a outro com o qual está relacionado» (Duarte in...
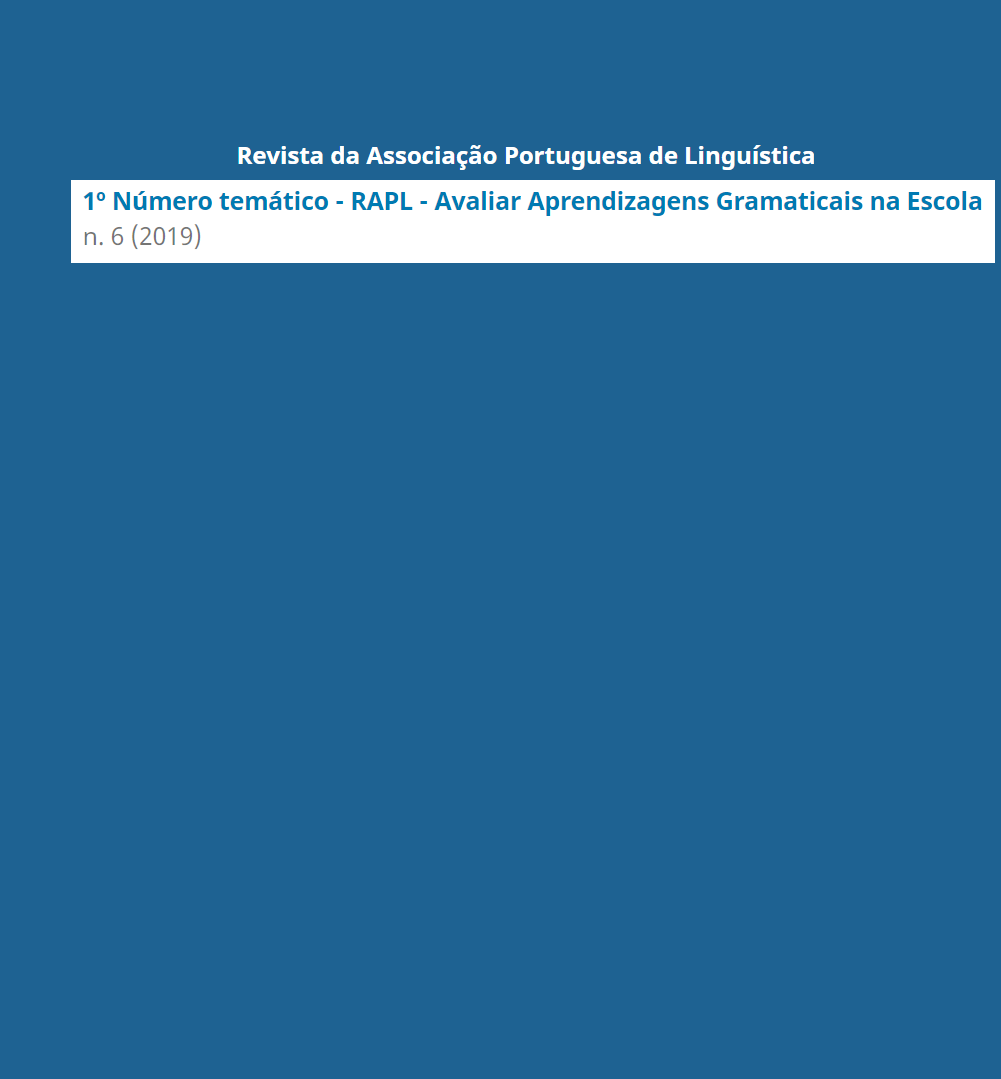 Revista da Associação Portuguesa de Linguística (2019)
Revista da Associação Portuguesa de Linguística (2019)



