Afinal, que gramática queremos?
Entre registos informais e formais
«A gramática deve orientar a redação de textos formais e ultraformais, cabendo ao redator adequar o uso ao registro em que opera.»
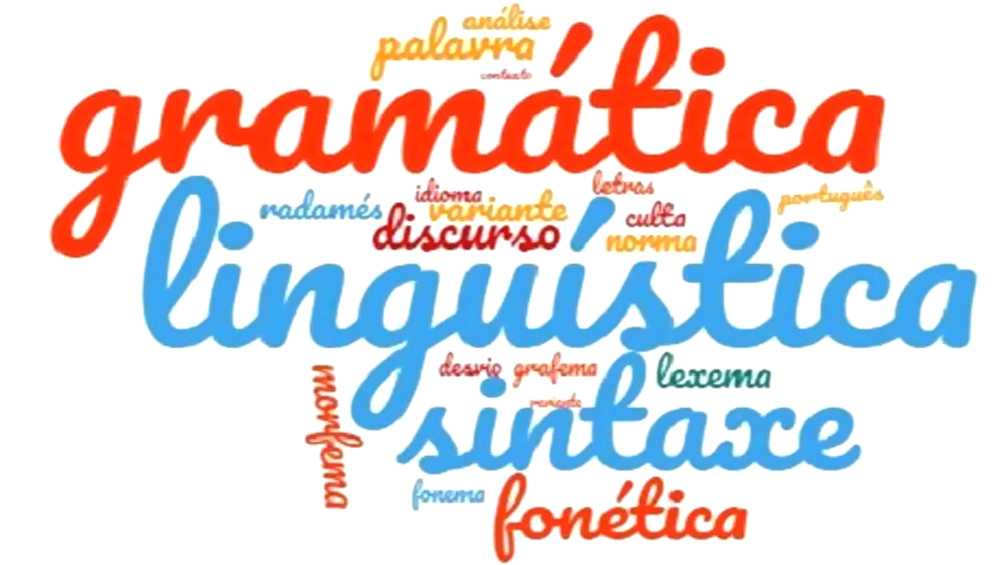 Como os leitores deste espaço [Diário de Linguista, 20/01/2025] devem saber, vem-se travando há algumas décadas uma guerra entre linguistas e gramáticos. Vejam, não estão em conflito a linguística e a gramática, duas disciplinas que, dadas suas atribuições específicas, podem e devem trabalhar em plena harmonia e cooperação. A “guerra” em questão se dá por parte de alguns linguistas, que não representam necessariamente a posição dessa ciência, mas são majoritários nas universidades públicas e entidades de classe, contra os gramáticos em geral, antigos e modernos.
Como os leitores deste espaço [Diário de Linguista, 20/01/2025] devem saber, vem-se travando há algumas décadas uma guerra entre linguistas e gramáticos. Vejam, não estão em conflito a linguística e a gramática, duas disciplinas que, dadas suas atribuições específicas, podem e devem trabalhar em plena harmonia e cooperação. A “guerra” em questão se dá por parte de alguns linguistas, que não representam necessariamente a posição dessa ciência, mas são majoritários nas universidades públicas e entidades de classe, contra os gramáticos em geral, antigos e modernos.
O argumento desses linguistas é que a gramática normativa preconiza um padrão anacrônico, já que supostamente baseado em autores do passado, predominantemente lusitano e exclusivamente literário, além de privilegiar formas arbitrariamente escolhidas pelos gramáticos para confirmar suas lições, ao mesmo tempo omitindo casos que não corroborem tais lições.
Em contraposição, esses linguistas defendem que o padrão normativo deva basear o corpus que lhe servirá de modelo, predominante ou exclusivamente, em textos brasileiros contemporâneos de não ficção, especialmente jornalísticos e acadêmicos. Em alguns casos, sustentam que construções populares típicas da oralidade informal como «eu vi ele» ou «aconteceu dois acidentes» sejam abonadas na norma-padrão, bem como sugerem o banimento de mesóclises (por exemplo, dar-lhe-ei) e de termos como o pronome relativo cujo e o demonstrativo este, que alegam terem caído em desuso.
Em primeiro lugar, tais linguistas faltam com a verdade ao proclamarem a extinção de formas que qualquer levantamento nem muito rigoroso demonstra que continuam vivas na escrita formal – e mesmo na fala dos mais bem escolarizados.
Em segundo lugar, propõem que se tome como padrão de exemplaridade idiomática textos cuja qualidade é bastante irregular (não me canso de pescar “pérolas” de semianalfabetismo em textos jornalísticos e, para meu desespero, também em acadêmicos).
Em terceiro lugar, criticam gramáticas que foram produzidas décadas e décadas atrás, de autores já mortos e enterrados, mas as gramáticas que eles mesmos elaboram não têm nem de longe o rigor metodológico das gramáticas tradicionais, mesmo as que porventura já estejam um tanto desatualizadas.
Em sua defesa, os gramáticos que atualizam frequentemente suas obras argumentam que elegem o gênero literário como o mais recomendado para compor seu corpus por ser a literatura a seara em que a expressão linguística atinge seu mais alto nível de perfeição e elaboração, sendo, mais do que qualquer outro, o discurso exemplar do idioma. Além disso, a literatura possui um cânone, isto é, uma coleção de obras de qualidade indiscutível e consensual, o que não ocorre com textos jornalísticos ou acadêmicos. Mesmo assim, obras de não ficção de grande qualidade, redigidas por nomes de inquestionável domínio linguístico, também entram nesse corpus.
Ademais, e ao contrário do que acusam esses linguistas, os gramáticos não impõem um padrão arbitrário e idiossincrático; eles, antes, coletam desse corpus rigorosamente construído em termos metodológicos os usos que efetivamente ali ocorrem de modo majoritário ou pelo menos significativo (e há critérios para definir o que seja significativo).
Mas a questão que quero tratar aqui é: afinal, que gramática queremos e para quê? Para isso, a primeira pergunta a ser feita é: para que serve a gramática?
Embora as gramáticas normativas se baseiem preferencialmente nos usos literários da língua, gramáticas não são elaboradas para servir de guia a literatos, já que estes prescindem de tal guia e é justamente o uso que fazem do idioma que vai servir de molde aos demais usuários. Assim, poderíamos definir a gramática como uma obra pedagógica cuja função é ser uma espécie de manual de uso da língua em sua expressão escrita formal. Nesse sentido, a enorme maioria dos consulentes das gramáticas é de redatores de textos de não ficção com propósitos profissionais e acadêmicos, tais como relatórios, reportagens, laudos, documentos, trabalhos escolares (incluindo dissertações e teses), livros técnicos, artigos científicos, etc.
Um segundo ponto importante a ser considerado é que, ao definir o objeto da gramática normativa, costumeiramente se faz a oposição entre o registro formal, quase onipresente na modalidade escrita, e o informal, predominante na fala. Na verdade, não há dois e sim quatro níveis de linguagem ou registros em que podemos nos expressar:
1) o registro ultraformal, atualmente restrito quase que somente ao universo do Direito (mais especificamente às instâncias mais elevadas do Poder Judiciário, visto que, no exercício da advocacia, abundam bacharéis mal letrados);
2) o registro formal, aquele mais usual nos textos profissionais em geral, como os mencionados acima;
3) o registro informal ou coloquial, típico da fala de pessoas alta ou medianamente escolarizadas, especialmente em situações de pouca ou nenhuma formalidade, mas que ocorre por escrito apenas em comunicações informais, como um bilhete ou mensagem de WhatsApp;
4) o registro vulgar ou iletrado, o qual é, na verdade, muito mais um dialeto do que um registro, visto que as pessoas que o utilizam, de baixíssima ou nenhuma escolaridade, jamais se expressam nos demais registros, sendo a recíproca igualmente verdadeira. Há, pois, uma barreira a separar os três primeiros registros deste último.
Um exemplo simplório, mas, creio, ilustrativo desses registros seria o seguinte:
1) «Fá-lo-emos tão logo a situação assim o permita» (ultraformal);
2) «Nós o faremos assim que a situação permitir» (formal);
3) «Nós vamos» (ou «a gente vai») «fazer isso quando a situação permitir» (informal);
4) “Nóis vai fazê quando dé” (vulgar).
A gramática normativa baseia suas prescrições e serve de guia em relação aos dois primeiros níveis. No ultraformal, por exemplo, a mesóclise permanece muito viva. No nível formal, é possível que já tenha um uso mais marginal (note que neste mesmo texto eu não a empreguei nenhuma vez). Nos dois últimos registros ela definitivamente não ocorre. Assim, quando um linguista afirma que tal ou qual forma linguística não se usa mais e por isso deve ser banida da gramática, em qual desses registros ele apoia sua tese?
Quando se discute, por exemplo, a simplificação da linguagem jurídica, muitos entendem erroneamente que o que se pretende é rebaixar o jargão do Direito ao falar dos botequins. Nada mais errado. Pode-se perfeitamente (e eu particularmente acho bastante desejável) trazer o discurso jurídico – com seu linguajar bacharelesco, empolado e rebarbativo, que, por seu excesso de erudição e preciosismo, soa pedante e mesmo ridículo – do nível ultraformal para o formal, o mesmo de outras profissões de nível superior, preservada, sem dúvida, a terminologia técnica do Direito.
Portanto, a gramática deve orientar a redação de textos formais e ultraformais, cabendo ao redator adequar o uso ao registro em que opera. Aqui mesmo, estou produzindo um texto formal, mas não ultraformal; por isso, estou tentando (e espero estar conseguindo) equilibrar elegância e clareza. Não vejo sentido em usar uma linguagem indigente com o pretexto de ser claro nem uma linguagem rebuscada a fim de soar elegante ou culto. Esse é o ponto de equilíbrio que o bom uso da gramática permite.
Por outro lado, como linguista que conhece várias línguas e estando no momento a conduzir uma análise comparativa do nível de complexidade gramatical das principais línguas europeias, posso adiantar a partir dos primeiros resultados que o português padrão apresenta, sim, uma gramática mais complexa do que idiomas próximos como espanhol, italiano, francês e inglês.
Por exemplo, nossa colocação pronominal padrão — mesóclises à parte — inclui um número de regras bem superior ao das demais línguas citadas. Nesse sentido, penso que, se fôssemos pensar em reformular a gramática normativa, deveríamos nos pautar não pela abonação de construções que só se encontram na fala informal ou vulgar, mas sim pela simplificação de regras tendo por baliza aquilo que as gramáticas de nossas línguas-irmãs já fizeram, às vezes séculos atrás. Sim, porque o estudo histórico das línguas nos mostra que o espanhol e o italiano, para citar os exemplos mais próximos, também já tiveram uma colocação pronominal complicada, mas a simplificaram e racionalizaram sem que isso significasse uma barbarização desses idiomas.
Assim, penso que, como em tudo na vida, o bom senso reside no caminho do meio: nem tanto ao mar nem tanto à terra. O discurso jurídico não precisaria ser tão prolixo e extravagante para ser preciso e inequívoco; sem dúvida, poderíamos prescindir das mesóclises tanto quanto as demais línguas do mundo, que desconhecem tal colocação. Por outro lado, poderíamos escrever com elegância e sem ambiguidade mesmo que adotássemos regras morfológicas e sintáticas mais simples e racionais, como as que encontramos ao lermos em espanhol, francês, italiano e sobretudo inglês. Por que não? Essa infrutífera guerra promovida por certos linguistas contra os gramáticos poderia terminar num consenso em que todos, sobretudo os falantes do português, sairiam ganhando.
Texto da autoria do linguista brasileiro Aldo Bizzocchi publicado no blogue do autor Diário de um Linguista (20/01/2025), divulgado no mural Língua e Tradição (Facebook, 26/02/2025) e aqui transcrito com a devida vénia.



