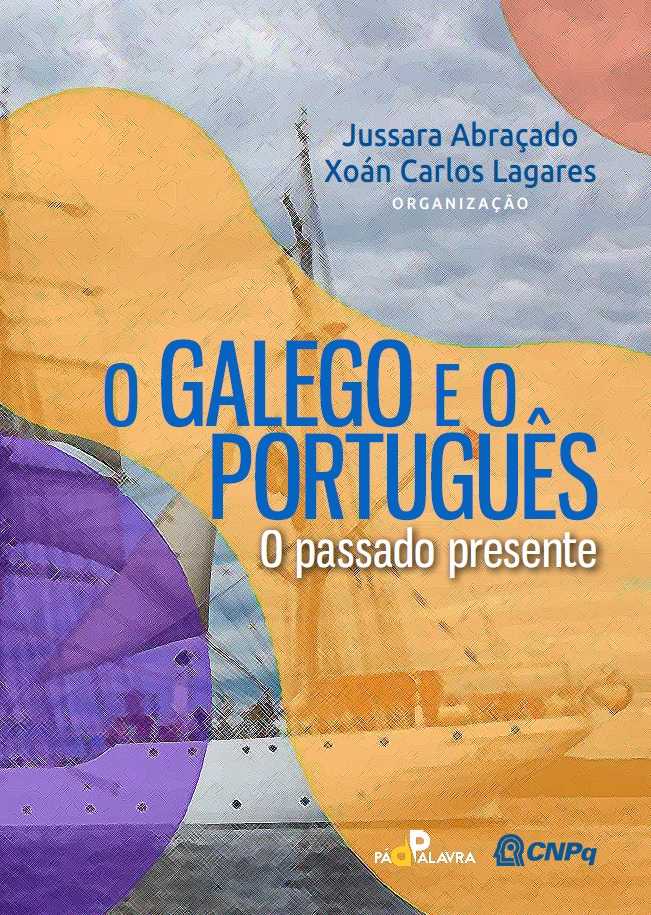 O Galego e o Português
O Galego e o Português
Textos publicados pelo autor
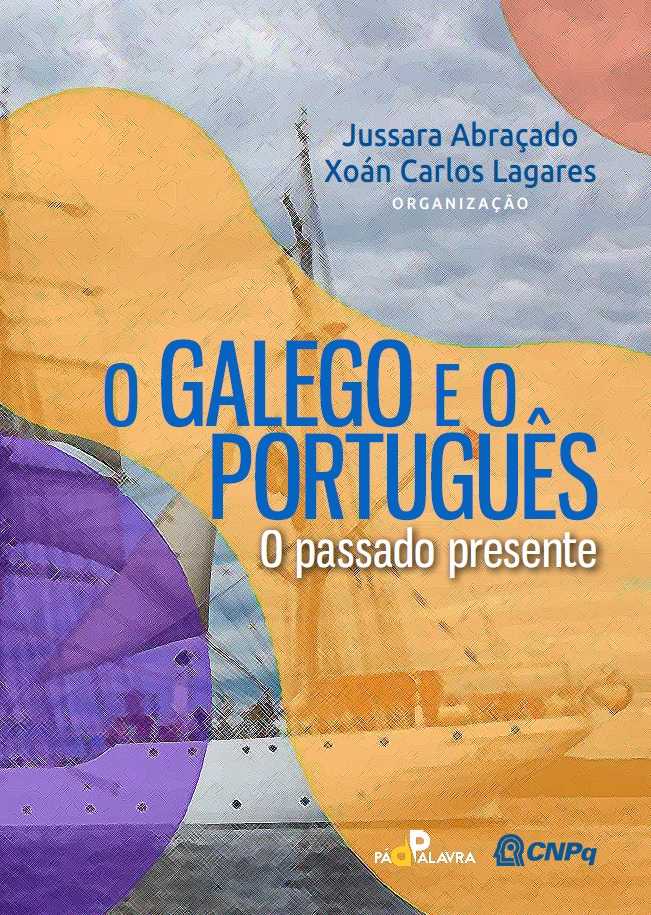 O Galego e o Português
O Galego e o Português
Foliação e "foliatação"
Pergunta: Há quem use, por influência francesa, o termo "foliatação", em vez de foliação, para designar a numeração dos fólios num manuscrito ou impresso antigo.
Dado que numerar folhas é um dos sentidos, recolhido em dicionário, do verbo foliar, a forma derivada correcta será foliação.
Foliatação suporia a existência, em português, do verbo "foliatar".
Pergunto se "foliatar" está atestado e, em caso negativo, se posso argumentar, baseado na coerência...
«Propor-se» e «propor-se a»
Pergunta: «Propus-me ver isto» ou «Propus-me a ver isto»?
Ainda não está claro para mim se o a é necessário, opcional ou errado.
Obrigado.Resposta: A preposição a é opcional.
Os dicionários portugueses consultados não são esclarecedores, mas na lexicografia brasileira há informação sobre o funcionamento deste verbo conjugado pronominalmente e seguido de infinitivo. Por exemplo, no Dicionário Prático de Regência Verbal, de Celso Pedro Luft, lê-se o...
Estilo e interferência do inglês
Pergunta: A pedido de um colega, estou revendo um texto da área médica que contém repetidas vezes frases como esta:
«Setenta por cento dos pacientes foram definidos como apresentando um baixo grau de sangramento.»
A mim, soa muito mal o gerúndio após «definidos como», mas não sei justificar por quê.
O que há de errado? Uma sintaxe calcada no inglês? Ou seria uma construção aceitável?
Grata pela atenção.Resposta: Do ponto de vista gramatical, a frase não está incorreta.
O problema não está no gerúndio, mas sim na sequência...
O adjetivo projetual
Pergunta: Em arquitetura usa-se muito frequentemente a palavra projetual para se referir qualquer coisa relacionada com um projeto de arquitetura.
A palavra existe? O seu uso é correto?Resposta: É termo correto.
Projetual é um adjetivo que não tem registo em dicionários mais antigos, mas a palavra está bem formada, é correta e tem entrada em dicionários elaborados e atualizados quer em Portugal quer no Brasil. Por exemplo, no dicionário Priberam, na Infopédia, no dicionário da...



