Textos publicados pela autora
Crase e sinalefa
Pergunta: Em vista das regras da crase e da sinalefa, acerca das quais tenho lido alguns artigos no Ciberdúvidas, sem no entanto ter percebido quais os limites para a aplicação das mesmas, gostaria de saber como se divide as sílabas métricas do seguinte hipotético verso:
Ou a aia ia ou ia eu aí.
Muito obrigado.Resposta: De acordo com as noções de versificação apresentadas por Cunha e Cintra, estamos perante um caso de sinalefa quando uma vogal «perde[r] a sua autonomia sintática e torna-se uma semivogal, que passa a formar...
Frases passivas e agente da passiva
Pergunta: A Gramática do Português da Fundação Calouste Gulbenkian distingue as orações passivas em verbais, resultativas e estativas, entre outras.
No entanto, os exemplos dados por ela pareceram-me muito acomodatícios deixando de fora muitos outros, ficando eu sem saber julgá-los, pois os critérios apontados na gramática não se coadunam com as caraterísticas deles.
Na página 441, no penúltimo parágrafo, a gramática chega a afirmar a impossibilidade de haver agente da passiva nas orações passivas...
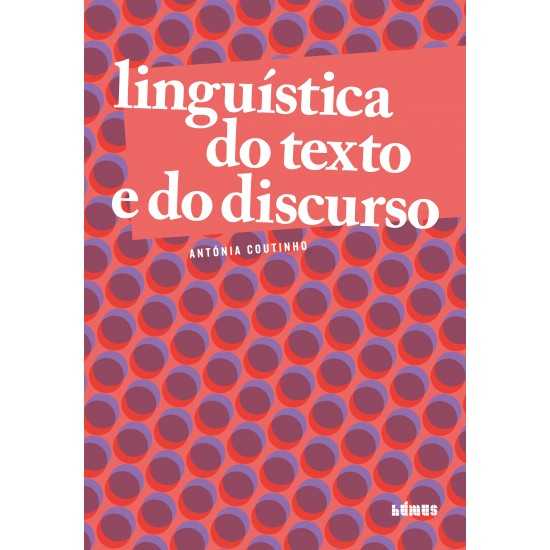 Linguística do texto e do discurso
A obra Linguística do texto e do discurso, de autoria de Antónia Coutinho, encontra-se publicada pelas Edições Húmus. Trata-se de uma obra de grande relevo, que poderá vir a assumir-se como uma edição de referência para a reflexão na área da análise do discurso.
A publicação encontra-se organizada em duas partes estruturantes: na primeira, a autora desenvolve o enquadramento teórico e epistemológico desta área de estudos, passando em revista diferentes quadros teóricos que assumem pertinência no...
Linguística do texto e do discurso
A obra Linguística do texto e do discurso, de autoria de Antónia Coutinho, encontra-se publicada pelas Edições Húmus. Trata-se de uma obra de grande relevo, que poderá vir a assumir-se como uma edição de referência para a reflexão na área da análise do discurso.
A publicação encontra-se organizada em duas partes estruturantes: na primeira, a autora desenvolve o enquadramento teórico e epistemológico desta área de estudos, passando em revista diferentes quadros teóricos que assumem pertinência no...
«Por óbvio» e obviamente
Pergunta: Recentemente ouvi algumas pessoas usando a expressão «por óbvio» em vez de obviamente.
Nunca a escutei antes e não a encontrei nos dicionários em que procurei. Gostaria de saber se ela é uma expressão válida.
Grato desde já!Resposta: A expressão não é incorreta, mas, no atual momento, parece ter ainda um uso restrito, com registos apenas na variante de português do Brasil.
A expressão «por óbvio» pode ser usada em situações como a que se apresenta em (1):
(1) «Ela tomou aquele desenlace por...
Uso figurado de patologia
Pergunta: Estou perante um documento oficial que em certa altura tem a seguinte frase:
«Acrescentar eventual informação sobre vetustez e/ou patologias das Escolas (...)»
Pelo que sei a palavra patologia é empregue em linguagem médica, e nunca a ouvi em outro contexto que não esse. Estará correta a frase referida?
Obrigada.Resposta: A frase está correta.
O termo patologia é, de facto, um termo da medicina que designa um «Desvio em relação ao que é considerado normal do ponto de vista...



