Controvérsias // Língua, cultura e sociedade
Quando os nomes próprios se transformam em armas políticas
Antropónimos e eleições presidenciais em França
«[...] É difícil estabelecer o que é um "nome francês", pois a maioria deles transcende fronteiras e faz parte de tradições culturais mais antigas (e.g. judaico-cristãs) ou mais recentes [europeias] [...].»
 2022 será ano de eleições em muitos países, a começar por Portugal e Brasil, país que, no ano em que comemora os 200 anos de independência, vive um dos períodos eleitorais mais dramáticos da sua história. Também a França, que acaba de assumir a presidência rotativa da União Europeia, terá eleições presidenciais este ano.
2022 será ano de eleições em muitos países, a começar por Portugal e Brasil, país que, no ano em que comemora os 200 anos de independência, vive um dos períodos eleitorais mais dramáticos da sua história. Também a França, que acaba de assumir a presidência rotativa da União Europeia, terá eleições presidenciais este ano.
Além de berço da Revolução Francesa e da cidadania, a França foi também sede de um império colonial que, tal como outros impérios europeus, foi ruindo a partir de 1776, ano da declaração de independência dos EUA. O colonialismo francês ocupou muitas regiões de tradição islâmica e teve custos, entre os quais se contam laços inquebráveis entre dominadores e dominados, mas também dramas familiares, ressentimentos e feridas mal cicatrizadas, que constituem pasto privilegiado para os movimentos populistas, cujo principal objetivo é destruir os sistemas sociais existentes e instaurar desregramento e desordem que tornem inevitável a vinda de um qualquer messias de serviço. Com frequência os candidatos populistas recorrem à exacerbação de um nacionalismo feroz, de um passado glorioso, de uma suposta "pureza identitária", ideias tão absurdas quanto irreais.
O candidato Éric Zemmour é filho de judeus berberes retornados da Argélia na década de 1950, apresentado como "jornalista" e "comentador" televisivo e assume-se como gaullista e bonapartista. Conhecido como o "Trump francês", ele é o novo rosto do populismo anti-islâmico, à frente do acabadinho de criar Reconquête (Reconquista, por alusão à reconquista da Península Ibérica aos árabes). A sua retórica é um pastiche da de Trump e, como ela, cheia de divisas tão vazias quanto incendiárias, como o seu slogan: Impossible n"est pas français [«Impossível não é francês»]. Em suma, uma "receita" tão pouco original e repetitiva quanto a de outros populistas que por aí andam.
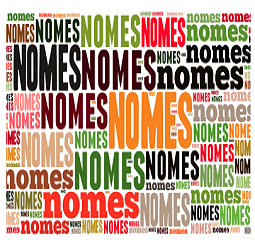 Uma das bandeiras que o candidato tem agitado na comunicação social é a do retorno aos "nomes franceses", defendendo a obrigatoriedade de "afrancesar os nomes próprios", pois, se os nomes contribuem para o reforço da identidade, a adoção de nomes franceses contribuirá para o reforço da identidade nacional. Discutir o assunto em contexto eleitoral está, assim, longe de ser descabido e muito menos inocente.
Uma das bandeiras que o candidato tem agitado na comunicação social é a do retorno aos "nomes franceses", defendendo a obrigatoriedade de "afrancesar os nomes próprios", pois, se os nomes contribuem para o reforço da identidade, a adoção de nomes franceses contribuirá para o reforço da identidade nacional. Discutir o assunto em contexto eleitoral está, assim, longe de ser descabido e muito menos inocente.
O código civil francês, modificado pela Lei n.º 8/1993, determina que os nomes próprios (prénoms) das crianças são escolhidos pelo pai e pela mãe. Só se algum dos nomes dados à criança puder ser considerado contrário ao seu interesse (e.g. por obstar à sua integração social) ou ao direito de terceiros, o juiz do tribunal de família poderá substituir o nome em questão, se os pais não providenciarem um nome alternativo. Olhando para a lista dos nomes mais atribuídos em França durante 2020, duas constatações parecem óbvias: a) é difícil estabelecer o que é um "nome francês", pois a maioria deles transcende fronteiras e faz parte de tradições culturais mais antigas (e.g. judaico-cristãs) ou mais recentes (europeias); b) a substituição de uma identidade francesa por uma "identidade islâmica", a este nível, parece uma possibilidade muito remota: entre os 50 nomes do top, apenas dois são claramente de origem árabe: Mohammed, em 29.º lugar, e Inaya, em 45.º. Esta arma de arremesso político é, portanto, mais um bicho-papão a jeito para brandir.
Escolher o nome a dar a uma criança pode ser um ato de afirmação política ou identitária, mas é com certeza uma marca indelével que o indivíduo carregará por toda a sua vida. Vale a pena refletir sobre estas questões.
Crónica da autora publicado no Diário de Notícias de 3 de janeiro de 2022.



