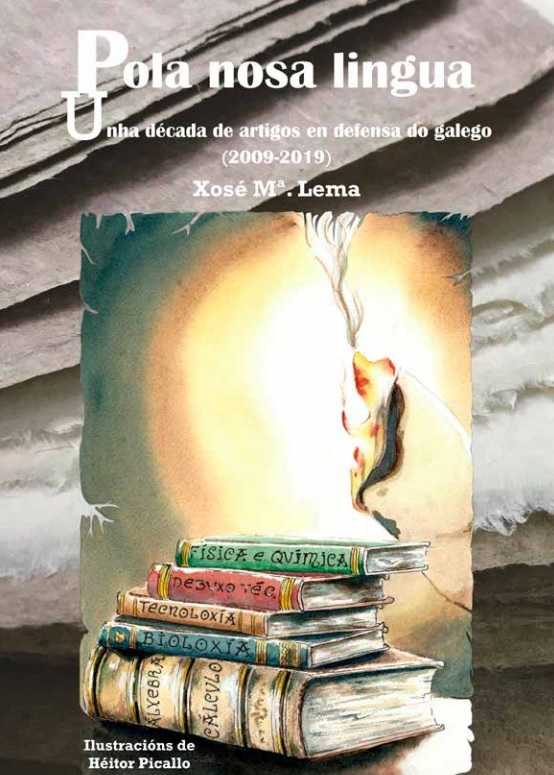 Pola Nosa Lingua
Pola Nosa Lingua
Textos publicados pelo autor
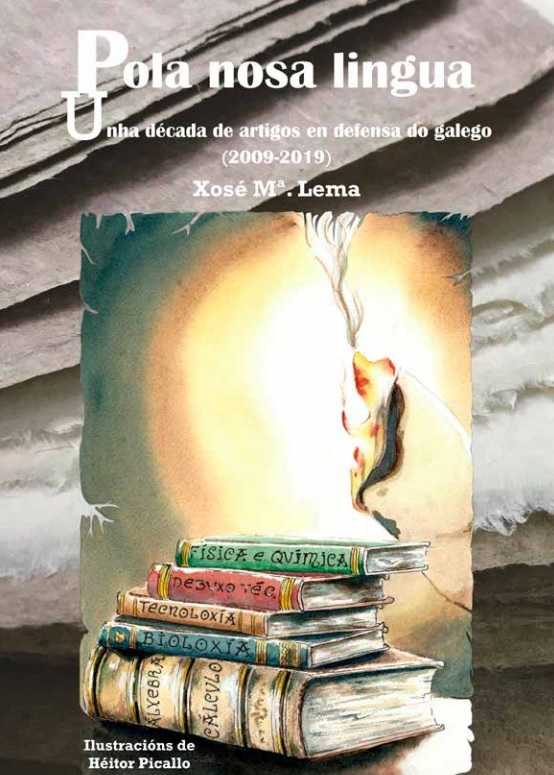 Pola Nosa Lingua
Pola Nosa Lingua
Bovinicultura e bovinocultura
Pergunta: A palavra correta a se utilizar é "bovinicultura" ou "bovinocultura"?
Obrigado.Resposta: Ambas as formas têm registo dicionarístico e estão corretas.
Pode, no entanto, considerar-se que bovinicultura é mais rigorosa que bovinocultura, atendendo a que o elemento bovin- é de origem latina e, em compostos (p. ex. agricultura), estes elementos latinos deveriam ligar-se ao elemento seguinte com a vogal i.
Em...
O uso de demais: «cedo demais»
Pergunta: Uma pergunta genérica clássica, mas para a qual não sei uma resposta ao caso concreto: «cedo de mais» ou «cedo demais»? Inclino-me para o segundo caso, por «demais» poder estar a intensificar «cedo», mas não tenho a certeza.Resposta: No caso, a forma mais adequada é demais, no sentido de «demasiado»: «cedo demais» – cf. «demasiado/excessivamente cedo».
Poderia escrever-se «de mais», e de facto era esta a forma prevista pelas Bases Analíticas do Acordo de 1945 (Base XXVIII) e por...
Oríon, Orião e Orionte
Pergunta: Como se deve escrever o nome da constelação? "Orion" ou "Orionte"?Resposta: Apesar de, em Os Lusíadas, se ler duas vezes1 Orionte, a forma considerada mais correta é Oríon, a par de Orião, também aceitável (cf. Rebelo Gonçalves, Vocabulário da Língua Portuguesa, 1966 e, ao lado, Perguntas Relacionadas).
Oríon é o nome de uma «constelação do hemisfério meridional que está situado no equador, próxima à do...
A grafia de não-sei-quantos
Pergunta: Escreve-se «um não-sei-quê». Também se deveria escrever «o não-sei-quantos», com hífenes?
Obrigado.Resposta: Embora não haja regra clara sobre estes casos, há vários exemplos – não-sei-quê, não-te-rales (cf. dicionário da Infopédia) –, que legitimam a hifenização de não-sei-quantos como nome.
Usa-se informalmente não-sei-quantos como nome – p. ex. «o/a não-sei-quantos» –, quando se pretende referir uma pessoa cujo...



