Textos publicados pela autora
Substantivo e nome
Pergunta: Em português de Portugal é errado classificar uma palavra como substantivo em vez de nome?Resposta: Não é errado classificar uma palavra usando os termos substantivo ou nome. No entanto, o recurso ao termo substantivo poderá corresponder a uma opção que não está de acordo com o quadro gramatical escolar adotado em Portugal.
Assim, os termos substantivo e nome são, no contexto da...
Os valores semânticos da construção ao + infinitivo
Pergunta: Tenho visto algumas frases em que a construção ao + infinitivo me parece inadequada, possivelmente por resultar de traduções literais do inglês by + ing form, e gostaria de saber se a sua aplicação está correta ou não nos exemplos de 1 a 3.
1) Pode ver mais informações ao clicar neste link.
2) Publica um anúncio ao aceder à página principal.
3) Descobre mais novidades ao ler este artigo.
Intuitivamente, costumo usar a construção ao...
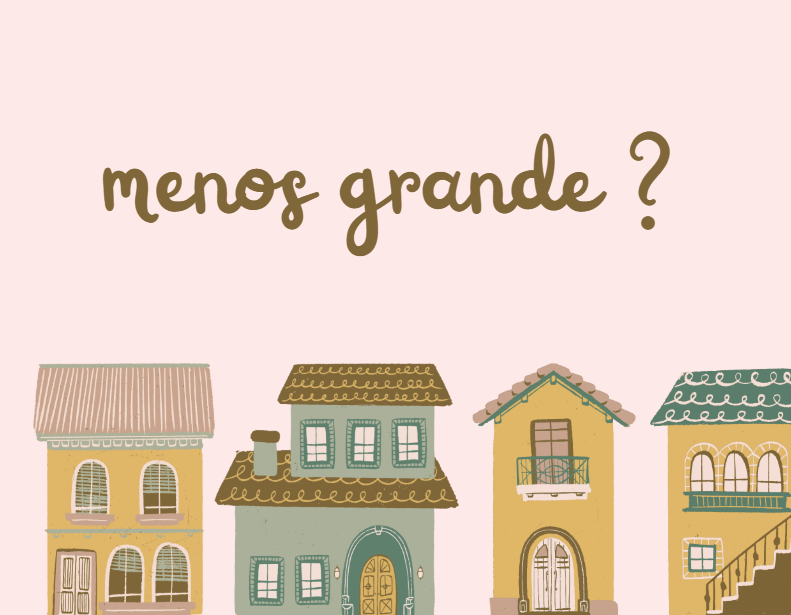 O comparativo de inferioridade de grande
O comparativo de inferioridade de grande
«menos grande do que»
O uso do comparativo de inferioridade de grande numa frase como «A minha casa é menos grande do que a tua» é aceitável? A professora Carla Marques aborda a questão no desafio semanal divulgado no programa Páginas de Português, na Antena 2, de 13/07/2025.... «De antes» ou dantes?
«De antes» ou dantes?
A referência a um período temporal anterior
Qual a opção correta? «Quero um bolo pelo preço "de antes" da crise.» ou «Quero um bolo pelo preço "dantes" da crise.»? A professora Carla Marques responde a esta questão no desafio semanal divulgado no programa Páginas de Português, na Antena 2, de 29/06/2025....
Objetivos e metas
Pergunta: A minha questão prende-se com a diferença de significado entre "meta" e "objetivo", uma vez que os artigos que encontrei online sobre o tema são inconsistentes.
Por um lado, temos artigos que sugerem que "as metas são mais abrangentes e representam conquistas de longo prazo, e os objetivos são mais detalhados e orientados para a ação" (por exemplo, https://speedio.com.br/blog/diferenca-de-meta-e-objetivo/). Ou seja,
– Uma meta é um resultado geral que se pretende alcançar a médio/longo prazo. A meta é...



