Textos publicados pela autora
 Das montarias às matanças
Das montarias às matanças
Palavras a denunciarem os atos
Na Herdade da Torre Bela, na Azambuja, organizou-se uma montaria, que levou à morte de 540 animais de grande porte, um caso que tem perturbado a opinião pública em Portugal e que motiva uma análise de palavras envolvidas nestes atos, como caça, montaria ou matança. Pela professora Carla Marques....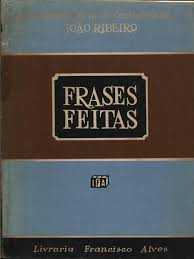 Frases Feitas
Frases Feitas
Estudo conjetural de locuções, ditados e provérbios (3.ª edição)
A obra Frases Feitas, de João Ribeiro (1860-1934), filólogo, historiador e crítico literário brasileiro, foi publicada em 1908 e reeditada pela Academia Brasileira de Letras em 2009 (3.ª edição), com prefácio de Evanildo Bechara e uma introdução do seu filho Joaquim Ribeiro. Esta publicação responde ao objetivo de coligir expressões correntes, usadas no português. Para estas expressões, João Ribeiro procurou uma explicação histórica que pudesse justificar quer o seu sentido quer a sua...
Os complementos verbais do português entre falantes de espanhol
Pergunta: Sou professora de Português em Espanha e, com frequência, observo que os meus alunos elaboram frases como:
– Gostaste do filme? Sim, gostei dele.
– Pratico natação e como gosto muito dela, vou à piscina duas vezes por semana.
Produz-me muita estranheza este uso do pronome pessoal para substituir realidades que não são pessoas.
Nas minhas aulas, eu nunca uso o pronome pessoal nestas estruturas. Simplesmente respondo:
– Gostaste do filme? Sim, gostei. / Gostei, gostei...
A sintaxe do verbo perguntar
Pergunta: Vi [no Ciberdúvidas] que o verbo perguntar pede objeto indireto.
Porém. o Google apresenta um dicionário exibindo o mesmo verbo como transitivo direto na primeira entrada com o sentido de "fazer pergunta(s) a; interrogar", e cita como exemplo a frase "o detetive perguntou todos os suspeitos". (Para abrir a página, procurar por "dicionário perguntar".)
Gostaria que pudessem explicar o por quê da diferença.
Obrigado!Resposta: O verbo perguntar admite um uso transitivo...




