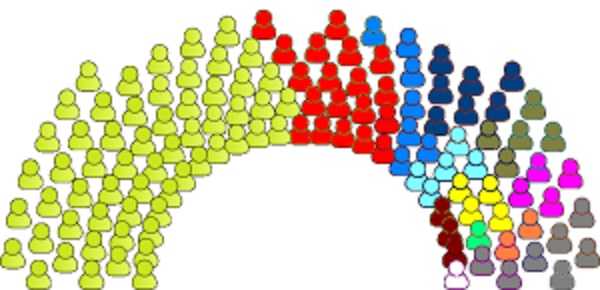Textos publicados pela autora
A expressão «elegância florentina»
Pergunta: Que sentido tem a expressão «elegância florentina», usada na crónica de Clara Ferreira Alves na Revista do semanário Expresso [de 22/01/2022]?Resposta: O adjetivo florentino forma-se a partir de Florença, cidade localizada na região da Toscana, em Itália, que foi durante muito tempo capital da moda e é conhecida por ser o berço do Renascimento italiano. A cidade acolhe obras de artistas do Renascimento, como Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, Giotto, Sandro...
Coordenação e colocação de pronomes átonos
Pergunta: Qual das frases está correta? Ou estarão as duas?
«Todos os que estavam com ela sorriam e a acarinhavam.»
«Todos os que estavam com ela sorriam e acarinhavam-na.»Resposta: As duas formas são aceitáveis.
De uma forma geral, as orações coordenadas copulativas introduzidas pela conjunção e e as orações coordenadas adversativas introduzidas pela conjunção mas, assumem as regras de colocação dos pronomes clíticos que se aplicam às frases simples ou às orações...
Redobro do pronome: «proteja-se a si e aos outros»
Pergunta: Ao ler a frase "Proteja-se a si e aos outros" fiquei com uma dúvida. Qual a razão para usar "a si" e "aos outros"?
Na frase "Proteja-se a si e aos outros" usamos "a si" porque o pronome pessoal reflexo "si" vem acompanhado da preposição "a". Logo, dizemos "Proteja-se a si" tal como dizemos "Convido-o a si". Mas qual é a lógica da segunda parte, "proteja aos outros"? Qual é o papel da preposição "a" contraída com "os outros" neste exemplo, sabendo que "proteger" não é regido pela preposição "a"?
Compreendo que digamos "Vi-o a...
O verbo intransitivo caminhar
Pergunta: Se o verbo intransitivo fala só por si, porque na frase «A Alda caminhou muito» dizem que é verbo intransitivo, mas tem um complemento – muito?
Agradeço a vossa explicação.Resposta: Quando se diz que um verbo é intransitivo, afirma-se que, pela sua natureza, ele não seleciona qualquer tipo de complemento. É o que acontece, por exemplo, na frase (1):
(1) «A árvore caiu.»
Nesta frase, o verbo cair não pede complemento. Por esta razão, classifica-se como sendo um verbo...