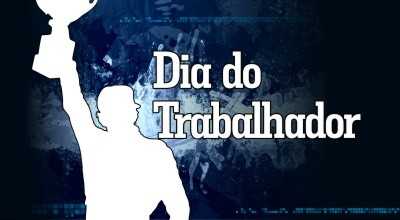Textos publicados pela autora
Vírgulas, conjunção causal, conjunção explicativa
Pergunta: Lendo alguns fóruns na Internet, deparei-me com o seguinte modelo de frase: «Jorge gosta de frutas porque faz bem.» Nota-se que há a conjunção porque, não sendo precedida de vírgula.
O fórum cita o porque explicativo e causal, citando suas diferenças, sendo uma delas a de que o porque causal não pode ser precedido de vírgula e estabelece uma causa entre as duas orações; neste caso, a causa de Jorge gostar de frutas deve-se ao fato de estas fazerem bem, o que explica...
Concordância do verbo ser: «metade é/são pastagens»
Pergunta: Qual a expressão correta: «Praticamente metade da superfície agrícola em Portugal são pastagens» ou «praticamente metade da superfície agrícola em Portugal é pastagens»?
Obrigada.Resposta: As duas frases são aceitáveis.
A questão colocada está relacionada com a possibilidade de concordância do verbo ser com o predicativo do sujeito em frases copulativas. Esta concordância é aceitável em diversos contextos que são assinalados por diferentes gramáticos (veja-se esta síntese de...
Enveredar e envidar
Pergunta: É possível torcer o uso de enveredar, para considerar que se trata do verbo sinónimo de envidar, neste caso?«No sentido de demonstrar ao povo ucraniano que não está sozinho nesta luta pela independência e liberdade, pela democracia, por um Estado de direito e pela paz, apelamos a Vossa Excelência para que possa enveredar os seus mais diligentes esforços junto do Conselho Supremo da Ucrânia (Parlamento Ucraniano – Verkhovna Rada) para que uma delegação de deputados desta Comissão...
«Iniciar sessão» vs. «fazer login»
Pergunta: Talvez se possa clarificar a resposta a Nelson Brás, em 6/4/2022, se tomarmos uma frase com o termo login, como «É preciso fazer login na página para ter acesso às informações».
Não se diz «É preciso fazer um login na página...», o que parece dar razão ao revisor citado pelo consulente.Resposta: Com efeito, é possível que a análise envolvida na questão colocada aqui esteja relacionada com a sintaxe que envolve a palavra login. Será, com efeito, estranha uma construção em que...