Diversidades // O português do Brasil
O que os jeitos de falar dizem sobre nós e os outros
Como a variação da língua influencia a perceção social e molda identidades
«[R]esultados [de vários estudos] ilustram como aspectos linguísticos operam na construção de significados sociais.»
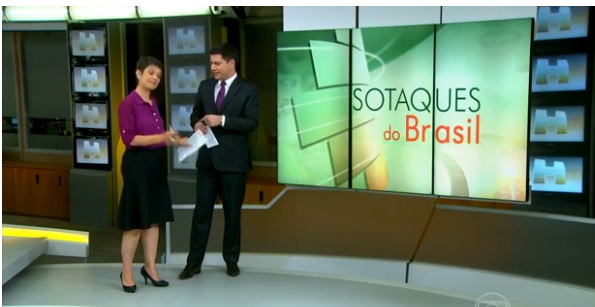 «A primeira coisa do sotaque é que ele não existe entre os seus. Ele vem com o outro ou quando você é o outro. E você nota. A primeira vez que eu notei que existia um outro sotaque foi quando eu me mudei do interior da Bahia para Salvador: tem o baianês caipira, do sertão, e ele é diferente do baianês litorâneo», relata o roteirista Tetel Queiroz, um homem branco na faixa dos 40 anos. Baiano radicado em São Paulo, ele menciona também os “pré-julgamentos” inerentes ao seu jeito de falar que observa na capital paulista. «Para o baiano tem uma série de expectativas: de que ele gosta de ir à praia ou só quer saber do happy hour às cinco horas da tarde.»
«A primeira coisa do sotaque é que ele não existe entre os seus. Ele vem com o outro ou quando você é o outro. E você nota. A primeira vez que eu notei que existia um outro sotaque foi quando eu me mudei do interior da Bahia para Salvador: tem o baianês caipira, do sertão, e ele é diferente do baianês litorâneo», relata o roteirista Tetel Queiroz, um homem branco na faixa dos 40 anos. Baiano radicado em São Paulo, ele menciona também os “pré-julgamentos” inerentes ao seu jeito de falar que observa na capital paulista. «Para o baiano tem uma série de expectativas: de que ele gosta de ir à praia ou só quer saber do happy hour às cinco horas da tarde.»
O depoimento de Queiroz integra uma conversa entre 12 pessoas, de várias partes do Brasil, que discorrem sobre a percepção dos sotaques. Disposto em telões, o bate-papo pode ser visto na exposição Fala falar falares, em cartaz até 14 de setembro [de 2025] no Museu da Língua Portuguesa, no centro da capital paulista. Com curadoria da cenógrafa Daniela Thomas e do linguista Caetano W. Galindo, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a mostra aborda tanto questões mecânicas do ato de falar, como a respiração, quanto questões sociais e políticas relacionadas à linguagem.
A variação linguística impacta a vida das pessoas, comenta a linguista Livia Oushiro, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Nos últimos anos, ela tem investigado, com apoio da FAPESP [Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo], a fala de migrantes nordestinos, sobretudo de Alagoas e da Paraíba, radicados nas regiões metropolitanas de Campinas (SP) e da capital paulista. A maioria é oriunda da zona rural, está na idade adulta (entre 20 e 60 anos) e cursou apenas o ensino básico. Em seus estudos, a pesquisadora vem tentando responder se essas pessoas adquirem traços linguísticos da nova localidade.
Oushiro analisou os termos utilizados por esses migrantes e a pronúncia de R em coda silábica, que no português paulista pode ser um R retroflexo, também caracterizado como «R caipira». Esse traço ocorre no final da sílaba – seja no meio da palavra, como em corda, seja no final, como em amor. «É um som ausente na fala nordestina, que geralmente adota um som aspirado», diz a pesquisadora.
Além disso, a linguista avaliou outros fatores, como o som de T e D antes de I, a concordância nominal e a preferência na estruturação de uma frase negativa. «Em português, podemos falar, por exemplo, "Não vi", "Não vi, não" ou "Vi não". A incidência dos casos entre sudestinos e nordestinos é bastante diferenciada, sendo o primeiro exemplo relativamente mais frequente na região sudeste e os outros dois no Nordeste», diz Oushiro.
A pesquisadora verificou que traços de pronúncia geralmente se modificam, como no caso do R e do T ou D antes de I, mas a pesquisa revelou também outras duas questões importantes. Uma delas é que as alterações são menos intensas no que diz respeito ao nível morfossintático, como a dupla negação. Além disso, a linguista notou que parte das mudanças graduais não tem uma correlação direta com o tempo de residência ou mesmo com a idade na época da migração.
«O migrante pode estar em Campinas há 30 ou 40 anos, mas não necessariamente vai adquirir mais traços linguísticos do lugar onde passou a morar ou passar por um processo de mudança gradual para absorver essas características», constata a pesquisadora. «Verificamos essa correlação do tempo com a pronúncia do R, mas não em outras variáveis. Por isso, é importante olhar detalhadamente para o percurso de cada pessoa e conferir outros fatores que influenciam sua trajetória linguística, como as redes de sociabilidade, compostas pelas interações com vizinhos e colegas de trabalho, por exemplo.»
Um dos integrantes do Laboratório Variem – Variação, Identidade, Estilo e Mudança, coordenado por Oushiro, é o linguista Emerson Santos de Souza, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Em sua pesquisa de doutorado, defendida na Unicamp em 2023, Souza buscou entender como baianos se comportam linguisticamente na Região Metropolitana de São Paulo e se passam a falar como paulistas em aspectos fonológicos, sintáticos e lexicais.
Souza, que também é baiano, analisou a fala de 50 conterrâneos. O levantamento foi feito por um processo chamado de amostragem de rede social. O pesquisador escolheu três “âncoras”: uma esteticista de 37 anos, uma empresária de 47 anos e um monitor escolar de 42 anos, que não se conheciam. Depois, mapeou seus contatos.
No decorrer da pesquisa, Souza percebeu que os modelos teóricos existentes que explicam a adaptação linguística em situações de migração não davam conta de explicar seus dados. Assim, criou o conceito de «plasticidade dialetal» para mostrar a capacidade que as pessoas têm de se adaptar linguisticamente à comunidade anfitriã.
O termo plasticidade foi emprestado da biologia e da física, áreas em que é usado para descrever a capacidade de materiais ou organismos se modificarem em resposta a fatores externos. Na linguística, o conceito ajuda a explicar por que grupos migrantes, mesmo expostos à mesma variedade de contato, podem desenvolver padrões diferentes de fala.
Na tese, Souza analisou seis fenômenos linguísticos, como a pronúncia do R em coda silábica, som ausente na fala baiana. O pesquisador observou também o uso de estruturas de dupla negação e a troca de termos, como tangerina por mexerica e trabalho por serviço.
A análise revelou que a adaptação linguística está associada a dois fenômenos. Aqueles regulares, quando uma estrutura linguística existe nas variedades paulistas e baianas, mas em proporções diferentes, a exemplo da dupla negação. E os irregulares. Ou seja, quando surge uma novidade na fala do migrante, como o R retroflexo para os baianos.
Além da aquisição, Souza identificou os processos de ampliações de contexto e de sentido, além de reduções de uso. «A palavra mandioca, por exemplo, passa por uma ampliação de sentido. Em São Paulo, o termo designa tanto a raiz usada para a farinha quanto aquela consumida cozida. Na Bahia, há uma diferença entre as duas, já que aipim é a raiz comestível e mandioca a que faz a farinha», diz o pesquisador.
A linguista Leila Tesch, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), tem pesquisado a percepção do sotaque capixaba no próprio estado e fora dele. «É comum ouvir pessoas, tanto as locais quanto as que vivem em outros lugares do Brasil, dizerem que capixaba não tem sotaque, algo que circula inclusive em piadas nas redes sociais», conta.
Para entender essa questão, Tesch realizou em 2021 um estudo de percepção com quase 1500 pessoas residentes em diversos estados do Brasil, com exceção do Acre, Sergipe e Tocantins. A pesquisadora ouviu ainda 23 brasileiros moradores de países como Portugal e Peru.
O levantamento revelou que 56% dos entrevistados consideram que os capixabas têm sotaque, enquanto 30% deles discordam e outros 14% disseram não saber. Entre os próprios capixabas, a divisão ficou próxima: pouco mais da metade reconhece um sotaque, enquanto o restante acredita que ele não existe. «Mesmo entre os que reconhecem o sotaque, a identificação não vem, em geral, de características fonéticas, mas de expressões típicas da região, como o termo pocar [estourar, arrebentar]», explica.
Segundo Tesch, traços linguísticos considerados tipicamente capixabas são de fato difíceis de definir. «É possível identificar algumas marcas, como a realização de ditongos em palavras como três e dez, que acabam soando como "treis" e "deiz", mas tais fenômenos também aparecem em outras variedades de sotaques, como o carioca.»
Na segunda parte do questionário, Tesch avaliou os sotaques das quatro capitais do Sudeste sob quatro critérios: prestígio, beleza, correção e agradabilidade. Os resultados mostraram, por exemplo, que os sotaques do Rio de Janeiro e de São Paulo foram mais associados ao prestígio, enquanto Belo Horizonte foi apontada como a capital sudestina com o sotaque mais bonito e agradável, seguida de Vitória. No quesito correção, Vitória se destacou como a cidade cujo português soa mais próximo da norma gramatical. «Não são escolhas apenas do aspecto linguístico e mostram uma construção ampla de identidade social», comenta Tesch. «O que possivelmente faz o sotaque mineiro ser considerado mais agradável, por exemplo, é também a ideia de hospitalidade associada àquele estado.»
A forma como as pessoas percebem a linguagem, seus sotaques e marcas sociais é o ponto de partida do livro Variação linguística: Diversidade e cotidiano (Editora Contexto, 2025), da linguista Raquel Freitag, da Universidade Federal de Sergipe (UFS). «Na sociolinguística estudamos o que é concreto e mensurável. Geralmente, olhamos para aspectos como as variantes que indexam as falas de migrantes, de pessoas LGBT+ ou de determinados níveis de escolaridade, por exemplo», relata Freitag. «Mas a percepção no dia a dia funciona de outro jeito. As pessoas não fazem essa análise técnica. Elas percebem um conjunto e, a partir dele, fazem suposições sobre quem fala, mesmo sem saber exatamente qual traço linguístico está em jogo.»
A construção de julgamentos com base na fala não é um fenômeno novo. De acordo com Freitag, esse comportamento aparece até em textos bíblicos. É o caso da passagem do Antigo Testamento que discorre sobre uma estratégia usada por soldados do líder militar Jefté para descobrir integrantes de um exército rival infiltrados na tropa. Ao usar a pronúncia da palavra hebraica shiboleth (ou «espiga»), distinguiam aqueles que vinham de outra região, já que os estrangeiros não conseguiam reproduzir o fonema e diziam "siboleth". Hoje, os linguistas chamam de xibolete toda marca que revele, automaticamente, nossa identidade.
«Julgar pela língua é parte do funcionamento da cognição humana. Fazemos isso o tempo todo, é uma forma de organizar e perceber o mundo e assim tomar decisões rápidas», prossegue a pesquisadora. Por isso, Freitag defende que ampliar o repertório linguístico seja uma das estratégias mais eficazes para mitigar os efeitos negativos desse mecanismo. «Quando tenho contato apenas com um grupo, minha percepção sobre a língua é mais uniforme. Mas, quando amplio minhas redes, seja por migração, viagens ou mídias digitais, começo a entender que há muitos modos legítimos de falar», observa.
O linguista Ronald Beline Mendes, da Universidade de São Paulo (USP), concorda. Desde a década de 2010, ele investiga como determinados traços da fala são percebidos socialmente e associados à identidade de homossexuais masculinos. «É a chamada "fala gay", ideia que, por si só, é problemática, pois isso pressupõe que, sendo gay, a pessoa vá necessariamente soar de uma certa forma, mas essa não é uma relação obrigatória», observa. «É possível que um homem homossexual não soe gay, assim como um homem que não é homossexual pode, eventualmente, soar dessa forma.»
Em uma de suas pesquisas, realizada em 2017, cinco homens leram o mesmo texto e um grupo de pessoas foi convidado a ouvir e avaliar as gravações dessas leituras, indicando, entre outras coisas, quais vozes soavam como gay. Uma das respostas indicava que a pessoa «falava muito certinho», outra citou que «homens gays usam muito diminutivo». Ambos os comentários revelam estereótipos sociais, já que todos os participantes leram o mesmo texto, que não continha diminutivos.
Desde então, Mendes desenvolveu seus estudos de percepção com foco em duas variáveis linguísticas: a concordância nominal e a pronúncia do E nasal. No primeiro caso, após ouvirem quatro vozes masculinas em diversas versões, os participantes elencaram de forma homogênea que essas, quando apresentadas na variante padrão da língua, ou seja, com concordância plenamente realizada, soavam «mais gay». Além disso, ouvintes do sexo masculino atribuíram essa característica mais vezes do que as mulheres, um indicativo de que o estereótipo sobre como deve soar uma voz masculina é mais rigoroso entre os próprios homens.
Para Mendes, esses resultados ilustram como aspectos linguísticos operam na construção de significados sociais. «Isso faz parte do funcionamento da língua. O problema é quando essa percepção se transforma em preconceito e passa a ser usada para prejudicar pessoas», conclui.
[Bibliografia]
Projetos 1. Coesão e dispersão: Análise sociofonética da variação idioletal em situação de contato entre dialetos (n° 23/00968-7); Modalidade Auxílio à pesquisa ‒ Regular; Pesquisadora responsável Livia Oushiro (Unicamp); Investimento R$ 125.424,34. 2. Processos de acomodação dialetal na fala de nordestinos residentes em São Paulo (nº 16/04960-7); Modalidade Auxílio à pesquisa ‒ Regular; Pesquisadora responsável Livia Oushiro (Unicamp); Investimento R$ 53.996,23.
Artigos científicos
OUSHIRO, L. et. al. Estudos sociolinguísticos sobre contato dialetal: Contribuições do VARIEM e agenda de pesquisa. Caderno de Estudos Linguísticos. Campinas, v. 65. 2023.
TESCH, L. O sotaque capixaba: Um estudo de percepção. (Con) Textos Linguísticos. Vitória, v. 16. 2022.
Capítulos de livros
OUSHIRO, L. “Interaction, confounding effect, and collinearity in the analysis of Brazilian internal migrants’ speech.” In: FERNÁNDEZ-MALLAT, V. e NYCZ, J. (org.). Dialect Contact: From speaker to community-based perspectives. Washington: Georgetown University Press, 2024.
MENDES, R. B. “Nonstandard plural noun phrase agreement as an index of masculinity.” In: LEVON, E. e MENDES, R. B. Language, sexuality and power: Studies in intersectional sociolinguistics. Washington Oxford University Press, 2016.
Livro
FREITAG, R. Variação linguística: Diversidade e cotidiano. São Paulo: Editora Contexto, 2025.
Artigo de divulgação científica publicado em Revista Pesquisa FAPESP, em agosto de 2025, e republicado no jornal digital Nexo.



