Uma língua que não se defende, morre
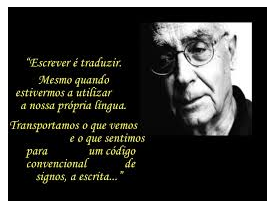
Texto escrito especialmente para o Ciberdúvidas pelo Prémio Nobel da Literatura José Saramago (1922-2010), depois da sua interrupção, em 2002.
Uma língua, num instante dado, ainda não existe, noutro instante depois já poderemos identificá-la, reconhecê-la, dar-lhe nome. Entre esses dois instantes, por assim dizer unívocos, é grande a dificuldade de apurar até que ponto o que há-de ser já está sendo, ou se o que foi já se transformou bastante para que seja possível antecipá-lo como forma do que será. É a mil vezes repetida metáfora da crisálida, vida entre duas vidas, simultaneamente criadora. Assim se terá feito a passagem do latim ao português, com aquela crisálida linguística pelo meio a tentar chegar aos mesmos significados através doutros significantes.
Abusando dos privilégios generalizadores do ficcionista, em quem sempre habita alguma animadversão contra a inamobilidade dos factos, tenho afirmado que bem mais importante que o facto em si é o momento em que ele se produz, e que, sem uma compreensão geral de quanto no tempo os envolve, os factos tornam-se, não raro, ininteligíveis, apenas os salvando de se tornarem em enigmas o seu próprio peso bruto, que acaba por constituí-los como evidências mais ou menos incontornáveis. É por isso que alusões à hora, ao instante, ao momento, à época regressam com insistência a uma reflexão que deveria orientar-se unicamente para a situação actual, uma vez que é do actual estado da língua portuguesa que me propus ocupar. Ainda que, confesso-o, me fosse de grande gosto, além do proveito que me traria, saber que causas se congregaram para que o português escrito, e presumo que também o falado, atingisse um tão alto grau de beleza no século XVII, por exemplo, e que enfermidades o atacaram depois e o trouxeram, com algumas intermitências fulgurantes (Almeida Garrett em primeiro lugar), a esta outra crisálida em que se está preparando não sei que insecto, por todos os indícios, provavelmente, um mutante.
Porém, muito mais do que saber que maleitas terão surgido nesse e noutros passados, importaria averiguar as causas, e propor os remédios, se ainda os há, para a acelerada degradação que está corroendo a língua portuguesa, essa que tanto nos envaidece chamar língua de Camões, sem nos perguntarmos se o mesmo Camões não a cuspiria da sua boca. Eu sei, ai de mim, que os optimistas são doutro parecer: dizem eles que a língua portuguesa não precisou de quem a cuidasse durante todos estes séculos e nem por isso se finou, que uma língua é um ser vivo e, como tal, eminentemente adaptável, que essa capacidade de adaptação é a própria condição da vida, e que, outra vez metaforicamente falando, depois de bem baralhados os naipes, sempre estarão na mesa as mesmas cartas, isto é, haverá língua portuguesa bastante para que os portugueses saibam do que estou a falar. Oxalá. Mas eu, se é preciso dizê-lo, por deformação original de espírito ou cepticismo que veio com a idade, não sou optimista. A convivência pacífica nunca foi a característica principal das coexistências linguísticas: por modos mais ou menos sub-reptícios sempre se estabeleceram modalidades de cerco, sempre se delinearam manobras de penetração, mas os vagares da História e a rudimentaridade das técnicas de comunicação, no passado, retardaram e alargaram os processos de envolvimento, absorção e substituição, o que nos permitia, sem maior inquietação, considerar que tudo isso era da ordem do natural e do lógico, como se na torre de Babel tivesse ficado traçado o destino de cada língua, vida, paixão e morte, triunfo e derrota, ressurreição nunca.
Ora, as línguas hoje, batem-se. Não há declaração de guerra, mas a luta é sem quartel. A História, que antes não fazia mais que andar, voa agora, e os actuais meios de comunicação de massa excedem, na sua mais simples expressão, mesmo o poder imaginativo daqueles que, como o autor destas linhas, fazem precisamente da imaginação o seu instrumento de trabalho. Tecnicamente, a única diferença entre Homero e nós é que ele, segundo consta, falava apenas, e nós, mesmo quando falamos, temos uma escrita a informar o nosso discurso. Claro que desta guerra de falantes e escreventes não se esperam, apesar de tudo, resultados definitivos em pouco tempo. A inércia das línguas é um factor de retardamento, mas as consequências derradeiras, verificáveis não sei quando, mas previsíveis, mostrarão, então demasiado tarde, que o emurchecimento prematuro daquela árvore anunciava já extinção de toda a floresta.
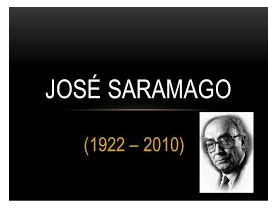 Línguas que hoje se apresentam como apenas hegemónicas em superfície tendem a penetrar nos tecidos profundos das línguas subalternizadas, sobretudo se estas não souberem, a tempo, encontrar em si próprias uma força vital que lhes permitisse resistir ao desbarato a que, de forma quase sistemática, se vêem sujeitas, agora que as comunicações no nosso planeta são o que são. Num livro que escrevi há alguns anos, chamado Viagem a Portugal, dei a um breve capítulo da parte consagrada ao Algarve o título “O português tal qual se cala”. Não preciso de explicar porquê. Hoje, uma língua que não se defende, morre. Não de morte súbita, já o sabemos, mas irá caindo aos poucos num estado de agonia desesperada que poderá levar séculos a consumar-se, dando em cada momento a ilusão de que continua viva, e por esta maneira afagando a indolência ou mascarando a cumplicidade, consciente ou não, dos seus suicidários falantes.
Línguas que hoje se apresentam como apenas hegemónicas em superfície tendem a penetrar nos tecidos profundos das línguas subalternizadas, sobretudo se estas não souberem, a tempo, encontrar em si próprias uma força vital que lhes permitisse resistir ao desbarato a que, de forma quase sistemática, se vêem sujeitas, agora que as comunicações no nosso planeta são o que são. Num livro que escrevi há alguns anos, chamado Viagem a Portugal, dei a um breve capítulo da parte consagrada ao Algarve o título “O português tal qual se cala”. Não preciso de explicar porquê. Hoje, uma língua que não se defende, morre. Não de morte súbita, já o sabemos, mas irá caindo aos poucos num estado de agonia desesperada que poderá levar séculos a consumar-se, dando em cada momento a ilusão de que continua viva, e por esta maneira afagando a indolência ou mascarando a cumplicidade, consciente ou não, dos seus suicidários falantes.
O quadro é, evidentemente, sombrio. Não faltará entre nós quem alegue, para contrariá-lo, a nova possibilidade de renovação e florescimento da língua portuguesa que nos é oferecida pelos países de África que, miraculosamente, no acto da sua independência, decidiram adoptar o português para sua língua oficial. Foi um acontecimento de grande importância, sem dúvida, mas que não seria prudente sobrestimar: mais do que uma decisão motivadamente sociocultural, foi um gesto de política pragmática que o futuro virá a confirmar ou não, quer por força das razões próprias, quer pela pressão envolvente das línguas periféricas. Acresce ainda que seria um acto de inadmissível abdicação entregar a outrem responsabilidades que são conjuntamente nossas, de nós, portugueses, que, sendo certo que não merecemos mais do que outros a língua por termos sido os criadores dela, também seguramente a não merecemos menos, quer nos direitos, quer nos deveres. Aliás, a frente principal da luta pela sobrevivência da língua portuguesa está no próprio país de origem: se nele se perder, há muitas probalidades de que venha a perder-se nos outros lugares do mundo que a falam. Não esqueçamos que as línguas se cercam umas às outras, não esqueçamos que a língua inglesa as cerca a todas e a todos nos cerca.
Uma reflexão mais, esta sobre o ensino da língua nas nossas escolas. Não quero duvidar da competência de quem ensina nem da vontade de saber que morará no espírito de quem aprende, mas interrogo-me com apreensão sobre os motivos do baixíssimo nível de conhecimentos e da confrangedora inépcia com que gerações de estudantes de todos os graus lidam com a nossa língua quando a escrevem e quando a falam.
Dizem que se trata de um fenómeno mundial, dizem-me que também no estrangeiro o erro de ortografia é rei e pouco lhe vai faltando para ser lei. Será, assim, mas evidentemente não é dos males alheios que poderemos esperar a cura das nossas próprias doenças. A escola, que tão mal ensina a escrever, não ensina, de todo, a falar. A aprendizagem elementar da fala e o desenvolvimento do falar estão entregues às famílias, ao meio técnico e cultural em que a ciência vai crescer, o que em si mesmo não é um mal, uma vez que assim costuma decorrer todo o processo de aprendizagem, pelo exemplo e pela exemplificação, sucessivos e constituidores. Mas a escola, não intervindo, como efectivamente não intervém, no processo edificador da fala, demite-se de uma responsabilidade em que deveria ser parte privilegiada, e, pelo contrário, vai receber o influxo negativo dos surtos degenerativos externos, assim “oficializando”, indirectamente, o errado e o vicioso contra o harmonioso e o exacto. E é facilmente verificável que a escola, não só não ensina a falar, como fala mal ela própria.
Texto especialmente para o Ciberdúvidas, na sequência dos contributos do angolano Pepetela, do cabo-verdiano Germano Almeida e do moçambicano Mia Couto.



