Textos publicados pelo autor
O apelido Rolim
Pergunta: O apelido Rolim, deve ler- se “Rólim”ou “Rulim”?
ObrigadoResposta: A pronúncia recomendada de Rolim é com ó aberto átono.
Algo de semelhante acontece com o topónimo Roriz, cujo o é também aberto, apesar de estar em sílaba átona.
Fonte: Rebelo Gonçalves, Vocabulário da Língua Portuguesa, 1966....
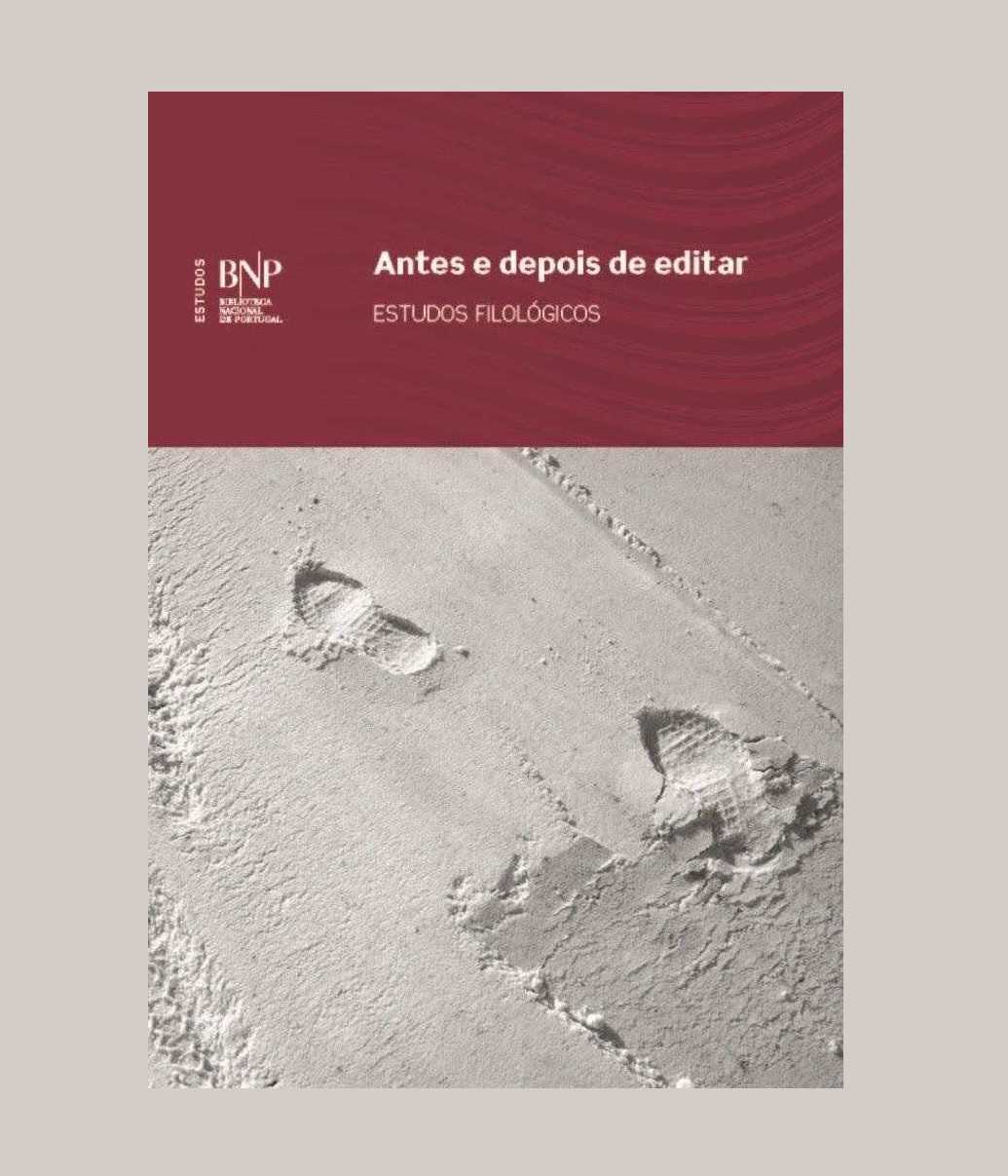 Antes e Depois de Editar
Antes e Depois de Editar
Estudos Filológicos
O livro Antes e Depois de Editar. Estudos Filológicos, coordenado por Ângela Correia (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – FLUL) e Carlota Pimenta (Universidade Católica Portuguesa), ambas investigadoras do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL), reúne nove estudos elaborados para o encontro que, com o mesmo título, se realizou na FLUL, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021. O objetivo desse encontro foi, como escreve Ângela Correia na introdução, refletir sobre a...
«Pôr a ridículo»
Pergunta: Vi a construção «Ele punha a outra equipa a ridículo», traduzida do castelhano. É de uso em português europeu?
Ou não será antes: «Ele expunha a outra equipa ao ridículo»?
Muito obrigado.Resposta: Aceita-se, mas os usos com maior tradição de registo nos dicionários são os seguintes: «meter a ridículo» «expor ao ridículo» e «expor a ridículo».
No entanto, há exemplos literários de «pôr a ridículo», os quais estão longe de configurarem um uso incorreto, até porque, do ponto de vista da tradição purista, tem-se...
Hajj, «peregrinação (a Meca)»
Pergunta: Nas minhas fontes e pesquisas não encontrei uma referência à tradução de hajj, a peregrinação realizada à cidade santa de Meca pelos muçulmanos.
Existe uma referência na Wikipédia a Alves, Adalberto (2014). Dicionário de Arabismos da Língua Portuguesa, mas gostaria de saber se o Ciberdúvidas concorda com esta solução ou se tem opinião diferente sobre a forma correta de escrever esta palavra de origem árabe em português.
Uma vez mais agradecido.Resposta: É uma palavra que não tem...
O som do e de escola e veado
Pergunta: Como ensinar a letra e em início de palavra (escola) ou no meio (veado) no ensino básico, quando esta letra é dita/lida como [i]?
Para um aluno que está a aprender a escrever e a ler, deveremos ler o som [e] e não [i], apesar de os alunos dizerem *viado e *iscola?
Como proceder?
Muito obrigada.Resposta: Em relação à primeira pergunta, uma correção: em escola e veado, figura um e, que é uma letra (ou...



