Controvérsias // Dicionário da Academia
Reflexões acerca do Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa

O seu preço é o normal duma obra desta envergadura, pelo que dele não temos de queixar-nos, tanto mais que os seus lucros parecem destinados à prossecução de trabalhos relativos à língua portuguesa, a levar a cabo pela ACL.
Mariano Gago tem razão quando diz que a Academia de Ciências de Lisboa «não é 'a' autoridade detentora da verdade sobre a língua portuguesa», mesmo, acrescentamos nós, que tenha poderes legais para tanto. O mesmo se diga de Cáceres Monteiro, quando afirma que «o dicionário é um contributo positivo, mas discutível».
A Língua deve, na realidade, ser uma preocupação fundamental do Estado e de todos nós, visto constituir o principal factor de identificação e de união dos Portugueses.
Coisas discutíveis, claro que existem, e muitas, como seja, por exemplo (pg. XIX) a resolução de não indicar a transitividade ou a intransitividade dos verbos, que «legitima» o mau emprego dos complementos directo ou indirecto, justificado apenas por citações mais ou menos literárias.
O caso de os substantivos não virem classificados em abstractos ou concretos é inteiramente diferente e irrelevante, porquanto se trata de «arrumação» que nada influi no seu uso correcto.
Foi óptimo que o Dicionário tenha optado pela adopção da ortografia do «desacordo» de 1945, ainda em vigor cá (na Europa), não obstante o soberano desprezo que no Brasil houve por este e pelo anterior, de 1931. E se for avante mais algum (oxalá que não!), como os dois projectados nos anos oitenta e noventa do século passado, não tenham ilusões: no Brasil continuarão letra-morta tais «combinações» académicas das duas nações irmãs.
Quanto à correcção dos étimos, citamos só o exemplo do grego archâios, adjectivo que quer dizer «antigo», erradamente apontado com o significado de «origem», este pertencente ao substantivo arché (isto ao tratar-se da etimologia do elemento de formação arqueo-).
Foi correcto apresentar apenas formas de pronúncia do português da região central do País, incluindo Lisboa, pois é este o considerado padrão, aquele que se deve ensinar. Tal prática é internacional há muitos anos, considerando-se a melhor pronúncia de um país a das pessoas cultas da sua capital. Só que é pena que muitas das pronúncias indicadas não são dessas, mas sim as usadas por pessoas que não as seguem, preferindo, conscientemente ou não, as de tendências erróneas, isto é desvirtuadas, regionais ou ocasionalmente ouvidas a pseudocultos, sobretudo com acesso aos meios de comunicação orais (rádio e televisão).
O nosso e mudo, inexistente no Brasil, era transcrito erradamente, pelo menos até aos anos setenta, no Alfabeto Fonético Internacional, por meio do símbolo e invertido, o que só era exacto para o e mudo francês, completamente diferente do nosso, e também, por exemplo, para sons análogos do inglês, alemão e outros idiomas. No turco, nas línguas eslavas e no romeno (língua românica como o português), designadamente, encontra-se um fonema semelhante ao e mudo português, transcrito no AFI pelo símbolo i cortado ao meio por um tracinho, que nós propusemos, há mais de vinte anos, fosse aplicado igualmente à nossa língua, em trabalho publicado na revista Orbis, da Universidade Católica de Lovaina (Bélgica), o que foi aceite, dando origem, directa ou indirectamente, a que no Dicionário da ACL também figure i cortado em vez de e invertido para a transcrição do e mudo português. O que não nos parece correcto é que o dicionário da ACL utilize os símbolos fonéticos da Associação Fonética Internacional sem informar os leitores da sua procedência, o que poderá levar os menos enfronhados nestas lides a julgar que se trata de um sistema inventado pelos autores do Dicionário.
Fechado este longo parênteses de ordem mais técnica, reafirmamos que nem sempre, portanto, a pronúncia dos vocábulos é a correcta nos usos dialectais, ou, ainda pior, a rádio e sobretudo a televisão espalham frequentemente pronúncias viciosas. Ora o Dicionário pactua com muitas, e assim, exemplificando, admite a pronúncia geração com e mudo, além da correcta e muito mais usual com e aberto (devido à crase, os dois ee do meio da palavra, proveniente do latim generatione, fundiram-se num e aberto, depois da síncope do n intervocálico. Há também grandes confusões na pronúncia do u de qu (que no acordo de 1931 levava trema quando se ouvia).
O e mudo inicial, constituindo sílaba só por si ou seguido de consoante, excepto x, com que forma sílaba, o qual em português normal (isto é na língua padrão) vale de i, é frequentemente assinalado no Dicionário com a pronúncia de e fechado (ê) ou até aberto (é). Exemplificamos com ervilha, errante, emigrante, etc. (note-se que emigrante e emigrar se pronunciam correctamente como os seus homófonos imigrante e imigrar!)
Militar, vizinho, ministro (em compensação!) registam-se com a indicação de se proferirem como tais todos os ii, o que constitui pronúncia pedante, artificial, substituída há dezenas de anos, e por vezes há séculos, pela com e mudo na primeira sílaba, devido à dissimilação, normal na língua portuguesa, de i – i em e (mudo) – i. Não podemos nem devemos concordar com a opinião de alguns de que «o correcto é adoptar o que está no dicionário». Além de que já passou o tempo do magister dixit (agora é o do «infalível nem o papa»!), o Dicionário induz a numerosas pronúncias erróneas, demasiado avançadas (que os ouvidos «normais» ainda consideram muito populares, próprias de analfabetos ou de semianalfabetos), tais como a de o- inicial proferido o aberto, em vez de fechado (ô), em muitos termos, por exemplo ovelha ou oleado. Mas o caso de ovelha ainda é mais gritante, visto adoptar-se a prolação do e medial como â (=òvâlha!), bem como nas palavras cereja (=cerâja!), coelho (=coâlho!), concelho (=conçâlho!), bandeja (=bandâja!), etc. Trata-se de pronúncias incultas, ainda não legítimas no português padrão, que adopta para o referido e a prolação do ditongo âi (bandeja como «bandâija», cereja como «cerâija», etc). Por outro lado, a pronúncia deste e antes de palatal como ê é dialectal; portanto espelho, vermelho e congéneres, com este e medial a ler-se fechado (em ves de âi), só é lícito em quem a usa por ser a da sua terra, mas de modo algum o é no português padrão, aquele modelo que devemos seguir e ensinar aos alunos portugueses ou estrangeiros.
É inadmissível que o Dicionário, que em tantas ocorrências apresenta duas prolações (onde está a norma afinal?) só dê para pelo (contracção da preposição per, anterior a por) a pronúncia igual à do substantivo homógrafo, ignorando assim a pronúncia de pelo com e mudo, mais antiga e ainda adoptada por tanta gente. Parece que os professores (ou docentes, como agora dizem...) já não explicam que pelo (=pêlo) é «cabelo», como dantes faziam!
Outras pronúncias erróneas aconselhadas no Dicionário: a de poesia com o e aberto, em vez de valer i , e a de perda, igualmente com e aberto em vez de fechado (ê), como recomendavam João de Deus e António José de Carvalho no Dicionário Prosódico de Portugal e Brasil, publicado no Porto e no Rio de Janeiro simultaneamente. Também o inultrapassável Gonçalves Viana e o grande Rebelo Gonçalves indicam ê (e fechado) na pronúncia de perda, que está agora a sofrer a influência de perca, este vocábulo sim, com e aberto.
Mas abramos parênteses, mais uma vez, para assinalar com louvor a prolação de ressurreição com e mudo (como religião, ressuscitar, redimir, etc), apesar de grande parte do clero, nas missas, proferir com e aberto este termo, o que não está certo. Para lhe dar ênfase basta proferi-lo com o e mudo, em lugar de o deixar cair!
Voltando aos «lapsos» do Dicionário, vir com a justificação de «star - estar» não colhe, porquanto a pronúncia star (isto é, /çtar/) não existe. Stare, em latim, é que deu estar, cujo e mudo o pode ser de facto (daí o seu nome), ficando o s com o valor de x (ch). Não confundir as grafias dadas pelo sábio Leite de Vasconcelos para assinalar as formas populares stramalhar ou strepassar, com a correspondente pronúncia /extre/ no começo destas palavras, devida, isso sim, à tendência em português para suprimir a vogal átona e- quando seguida de s (=x, ch).
Não queremos, porém, deixar de realçar outra pronúncia exacta (entre muitíssimas) patente no Dicionário: a de excerto, com o e medial aberto, em lugar do fechado (ê) que é frequente ouvir na rádio e na TV.
A ACL não tinha realmente qualquer obrigação de fazer um concurso público para editar o Dicionário, mas dado que as suas soluções fazem lei, podia ter havido mais cuidado pelo menos com os estrangeirismos (especialmente com os semiaportuguesamentos) e, como já se viu, com as prolações aconselhadas.
O Dicionário confunde por vezes (para apoiar certos semiaportuguesamentos de estrangeirismos) latinismos e grafias arcaicas, esquecendo que nestas valia tudo, como sabem os especialistas. Scanner, stand, staff e stress deviam pois não ser semiaportuguesados e manter-se tal e qual, em inglês, havendo somente o cuidado de grafar estes termos entre aspas ou em itálico, para ficar bem patente a sua qualidade de estrangeirismos. Os grupos iniciais sc, st não fazem parte da língua portuguesa, escrita ou falada. As palavras provenientes do latim iniciadas em s + consoante surda deram vocábulos portugueses com um e prostético (mudo em Portugal), enquanto o s deu, na pronúncia, x (ch), como em espectáculo, esterco, escaleno. Claro que não poderíamos apor agora o tal e- aos termos ingleses, dado que não os proferimos, ao contrário dos Brasileiros, que dizem êstréssi, etc. St não é reprovável por não estar consagrado na tradição ortográfica; é, repetimos, que não há (nem nunca houve) na língua portuguesa palavras assim começadas, o que é muito mais grave. Stafe enferma do mesmo mal que stresse. Para evitar semiaportuguesamentos deste tipo, reprováveis, como vimos, o único aportuguesamento razoável, em português europeu, seria setresse, setafe e quejandos. Não se pode falar de analogia com estado ou espada, porque pronunciamos o s de stress e de staff à inglesa (=ç), e não com o som de x ou de ch ocorrentes em espírito, estafermo, etc.
Aportuguesamentos do género da terminação inglesa -ing como -ingue são relativamente aceitáveis, nos casos em que tais estrangeirismos (ou neologismos externos, no dizer da ACL) são adoptados, como no famigerado brífingue, quando não se puderem ou quiserem evitar. Já eau-de-toilette é inadmissível num dicionário português; quando muito devia usar-se, como dantes, água de cheiro (uma vez que toilette, assim escrito, nada é na língua portuguesa). E toilete (assim mesmo!) não é português, porque se manda ler oi com o seu valor de uà em francês, e grafado só com um t, quando nesta língua é com dois!
O caso de laser, em que o Dicionário recomenda a leitura inglesa, só prova a nossa subserviência a esta língua; Franceses, Espanhóis e Alemães, por exemplo, embora escrevendo a palavra em inglês, lêem-na de acordo com as suas línguas, sem ditongar o a (em âi), ao contrário do que se faz em Portugal. Porque não ler laser (=làser), aportuguesando a pronúncia do vocábulo? Em França evita-se o franglais, multando-se quem o usa publicamente por escrito (em etiquetas, letreiros, etc.). Aí estava um processo bem rendoso de o Estado aumentar as suas receitas!
Será que ateliê e dossiê, isto é atelier e dossier, são mesmo indispensáveis? Cândido de Figueiredo, Vasco Botelho de Amaral e outros mostram bem que não.
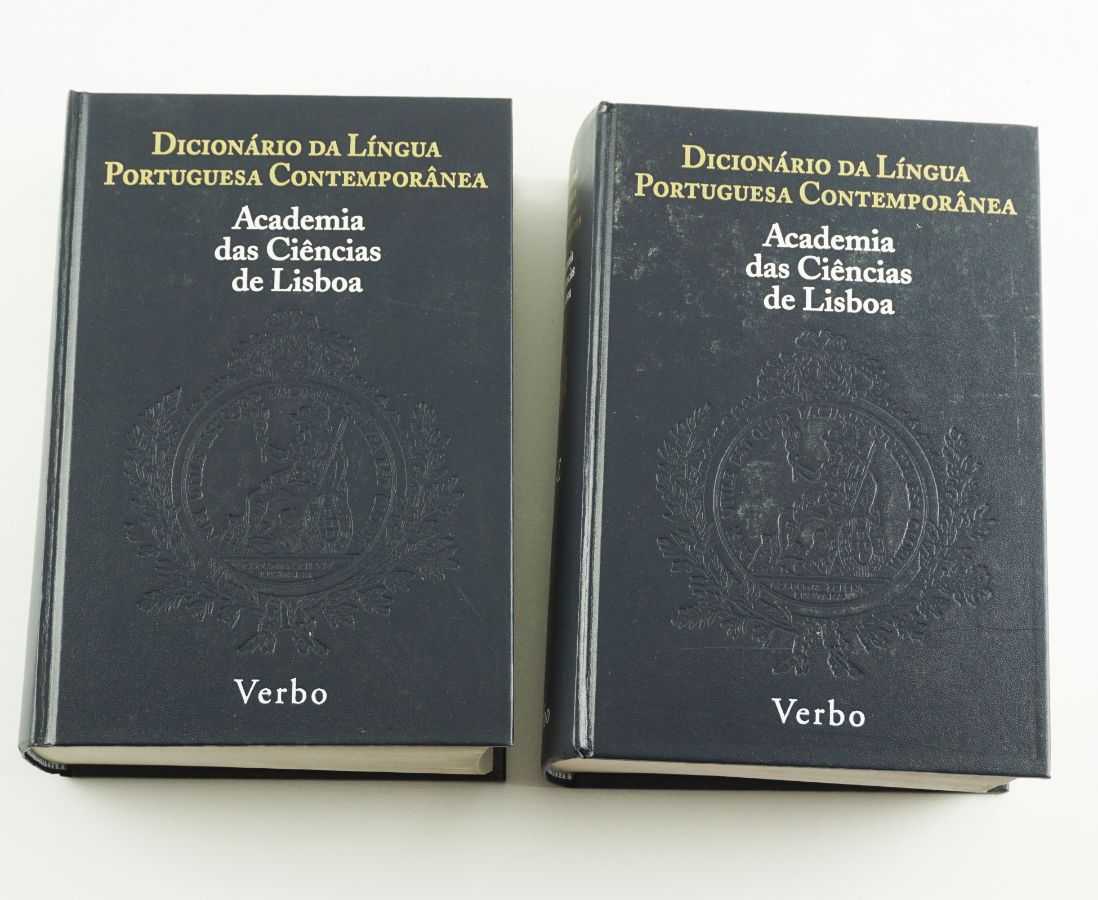 Check-in é dos tais anglicismos que já ninguém vai deixar de usar, pelo que mais valia acolhê-los como stop e outros já radicados entre os falantes portugueses, mas havendo sempre a preocupação de metê-los entre aspas ou pô-los em itálico. Fez bem o Dicionário, por outro lado, em não aportuguesar jazz (por causa das suas semelhanças com jaz, verbo jazer!).
Check-in é dos tais anglicismos que já ninguém vai deixar de usar, pelo que mais valia acolhê-los como stop e outros já radicados entre os falantes portugueses, mas havendo sempre a preocupação de metê-los entre aspas ou pô-los em itálico. Fez bem o Dicionário, por outro lado, em não aportuguesar jazz (por causa das suas semelhanças com jaz, verbo jazer!).
Takeaway podia muito bem ter-se transformado em pegue e pague (nome que já vimos em tabuleta duma loja algarvia, embora grafado Peg e Pag, se não estamos em erro!).
O anglicismo know-how, como tantos outros termos estrangeiros, especialmente ingleses, está já tão divulgado que julgamos desnecessária a sua substituição por saber-fazer, que ninguém vai utilizar.
Sítio fica bem por site; é aportuguesamento satisfatório, que documenta aquilo que o Dicionário apelida de «neologismos externos», como acima foi dito. Neste exemplo o neologismo é apenas semântico, o que é comum a todas as línguas, cujo vocabulário vai constantemente assumindo novos significados.
Plafom para quê? Então tecto não fica muito melhor? Estamos apenas perante outro neologismo semântico!
Já concordamos com o enraizado robô, assim aportuguesado (poucos se dão ao trabalho de dizer autómato!), esclarecendo apenas que o francês robot, que se tem empregado até agora também em Portugal, vem do checo robota (=trabalho) e não do húngaro. É preciso certo cuidado com as línguas estrangeiras quando se fazem afirmações destas!
Para quê à base de, galicismo inútil, se já tínhamos (e temos) o nosso com base em? Talvez alguns achem mais bonito!
Meter no Dicionário o termo cretcheu é rematado disparate: por um lado por tratar-se de termo do crioulo caboverdiano, por outro por conter o grupo tch, actualmente apenas dialectal, escrevendo-se sempre ch, mesmo que se pronuncie assim esporadicamente. Motivos ambos, pois, para não se dever ter registado num dicionário que se pretende normalizador da língua portuguesa.
Nomes de moedas como lev, lek, taka não se justifica que não se aportuguesem em leve, leque, taca, ou pelo menos se usem em itálico ou entre aspas. O mesmo se diga de kwanza para a unidade monetária angolana, anteriormente o topónimo Cuanza, nos tempos do «colonianismo». Outro tanto também se passa com países como o Zimbábwe, com um w absolutamente intruso, desnecessário, perfeitamente substituível por um u. Tal adopção de grafias escusadamente estrangeiradas é absolutamente condenável. Na mesma ordem de ideias, é ainda mais absurdo grafar rial o nome das unidades monetárias da Arábia Saudita e do Irão, quando ele vem do nosso real! Francamente, é de mais!
Icebergue é aportuguesamento que só permite a pronúncia com i-; se queriam dar ao vocábulo aquela com ai-, só havia duas hipóteses racionais: deixá-lo em inglês, ou aportuguesá-lo de facto (aicebergue). Mais uma vez se nota o perigo dos semiaportuguesamentos!
Outro exagero, de índole muito diferente, é o acolhimento (de braços abertos!) do recentíssimo bué, autêntico monstro dentro do português, muito pior, na verdade, que a adopção do termo quilé, usado vulgarmente em calão, já há bastante tempo. Alguém disse com justa graça, a este respeito, que houve discriminação!
Como se calcula, muito mais haveria para dizer, mas queremos acabar do mesmo modo que começámos, ou seja, congratulando-nos com o almejado aparecimento do Dicionário da venerável Academia das Ciências de Lisboa.
[Além dos Textos Relacionados alusivos a esta obra (ao lado), ler também resenha publicada por John Robert Schmitz (Universidade Estadual de Campinas) na revista DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, vol.23 no.1 São Paulo, 2007.]



