Lusofonias // Atitudes linguísticas
Norma linguística e inclusão social (III)
O papel dos usos exemplares
«(...) Mas uma premissa reside na desvinculação entre norma gramatical e preconceito linguístico. Com efeito, nada mais primário que estabelecer uma relação de causa e efeito entre entidades que não mantêm entre si relação de causalidade. (...)»
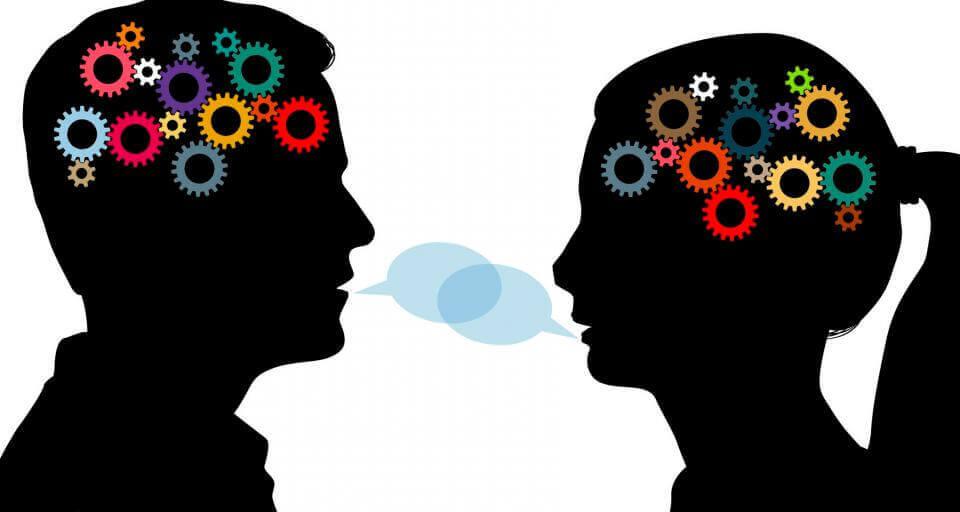 Uma tese recentemente defendida na Universidade de Georgetown (Niedt, 2011) comprova a complexidade do preconceito linguístico mediante estudo do efeito que o sotaque árabe provoca no falante nativo do inglês norte-americano. Nas entrevistas, solicitou-se aos informantes que ouvissem gravações de falantes estrangeiros vinculando-os a conceitos não determinados. No caso do sotaque árabe, a vinculação se estabelecia predominantemente com “muçulmano”, embora não haja necessária correlação entre ser árabe e ser muçulmano. Depois, solicitou-se ao informante que o falante estrangeiro fosse vinculado a características como confiabilidade, descontração, religiosidade etc. No caso do falante com sotaque árabe, qualidades como descontração e confiabilidade tiveram baixo índice em face de falantes com sotaque de outras línguas, como o espanhol; já o traço de religiosidade teve alto índice no caso dos falantes com sotaque árabe. Vê-se, por aí, que a rejeição ao sotaque árabe não é propriamente de cunho linguístico, mas, evidentemente, de caráter político.
Uma tese recentemente defendida na Universidade de Georgetown (Niedt, 2011) comprova a complexidade do preconceito linguístico mediante estudo do efeito que o sotaque árabe provoca no falante nativo do inglês norte-americano. Nas entrevistas, solicitou-se aos informantes que ouvissem gravações de falantes estrangeiros vinculando-os a conceitos não determinados. No caso do sotaque árabe, a vinculação se estabelecia predominantemente com “muçulmano”, embora não haja necessária correlação entre ser árabe e ser muçulmano. Depois, solicitou-se ao informante que o falante estrangeiro fosse vinculado a características como confiabilidade, descontração, religiosidade etc. No caso do falante com sotaque árabe, qualidades como descontração e confiabilidade tiveram baixo índice em face de falantes com sotaque de outras línguas, como o espanhol; já o traço de religiosidade teve alto índice no caso dos falantes com sotaque árabe. Vê-se, por aí, que a rejeição ao sotaque árabe não é propriamente de cunho linguístico, mas, evidentemente, de caráter político.
Mas uma premissa reside na desvinculação entre norma gramatical e preconceito linguístico. Com efeito, nada mais primário que estabelecer uma relação de causa e efeito entre entidades que não mantêm entre si relação de causalidade. Não são poucos os textos contemporâneos que insistem nessa perspectiva de tratamento da questão com o agravante de disseminá-la no ambiente acadêmico formador de professores de português. Daí resulta eleger-se o gramático como personagem infensa à liberdade de expressão e impositor de regras artificiais «que ninguém mais usa».
Cuida-se aqui de uma falácia, já que a norma gramatical não reside no arbítrio do gramático, senão nas escolhas do falante. A língua é um sistema verbal de que se serve uma comunidade linguística historicamente constituída. O falar corretamente uma língua implica obviamente falar conforme a tradição linguística desse grupo de falantes, mas, considerando que a língua é multifacetada, variável no corpo da sociedade, disso decorre multiplicar-se em diversas línguas funcionais (Coseriu, 1980), de que resulta termos, dentro da língua histórica, mais de uma norma de correção idiomática. Em outras palavras, falamos em normas de correção porque cada língua funcional estabelece seus parâmetros de uso e, portanto, seus critérios de correção linguística. Nesse plano, dizer uma frase como “A gente podemos fazer isto” ou uma frase como “Custa-me crer que o tenha feito” será “correto” ou “errado” na medida em que tais frases sejam ditas em determinada língua funcional, ou seja, em dada variante de uso da língua histórica.
Ocorre que, num plano mais abstrato, corre no seio da sociedade uma maneira de falar que mitiga as diferenças de uso presentes em cada língua funcional e, por assim dizer, expressa um desempenho linguístico consuetudinário, eleito historicamente como genericamente adequado e unificador das divergências que cada língua funcional ostenta em face das demais. Daí resulta o conceito de exemplaridade linguística, de norma-padrão nesse sentido unitário em que certas estruturas frasais e modos de dizer são eleitos historicamente como preferíveis.
A dissintonia entre o que prescreve a gramática e o que a sociedade acata como exemplar pode advir da natureza do corpus de descrição linguística de que se serve o gramático. Durante largo tempo, as gramáticas de línguas vernáculas – não só as do português como também as de praticamente todas as línguas ocidentais – pautaram a descrição de usos na língua presente em obras literárias clássicas, de tal sorte que muitas construções agasalhadas nesses textos soavam anacrônicas aos ouvidos tanto de mestres quanto de alunos nas classes de língua portuguesa. O equívoco do gramático, então, foi de acatar como exemplares algumas construções que, pelo desuso geral, já se revelavam restritas a uma língua funcional.
No entanto, a práxis de pautar a descrição do uso exemplar na língua literária não é desprovida de razão, pois efetivamente é no plano literário que a língua se expressa na plenitude de suas possibilidades comunicativas. Em outros termos, se admitirmos que o papel da gramática é o de registrar a exemplaridade no âmbito de uma língua histórica e, em aditamento, acatarmos a premissa de que a língua literária é o locus dicendi das formas exemplares, então esse será o corpus mais adequado de descrição gramatical. Basta, é claro, que se escolham na seleção do corpus textos literários que estejam numa sincronia contemporânea, ou seja, que expressem um estado de língua atual.
Como reiteradamente nos ensina Eugenio Coseriu em seus estudos sobre a relação entre o ensino da língua e a literatura, é nos limites da língua literária que se encontra “a plena funcionalidade da linguagem ou a realização de suas possibilidades, de suas virtualidades” (Coseriu, 1993: 39). A lição de Coseriu resume-se na observação de que, diferentemente da língua presente na vida prática ou mesmo das normas da linguagem científica — que constituem modalidades dos usos linguísticos —, a língua literária não se encerra em limites comportamentais, pois percorre sem reservas as várias possibilidades de uso, de que decorre seu expressivo caráter suprafuncional.
Na atualidade, o corpus da descrição gramatical tem-se estendido para outras fontes, como a dos textos jornalísticos e acadêmicos (cf. Neves, 2000; Azeredo, 2008), sem descurar, entretanto, da língua literária. Cuida-se aqui de um avanço no sentido de acatar como expressão da exemplaridade também o texto não literário escrito por falantes de alto nível de escolaridade; mas a premissa de que a gramática cinge-se ao uso exemplar permanece, sem que se possa aí vislumbrar qualquer traço de discriminação ou desqualificação dos registros coloquiais.
Essas palavras conduzem-nos de volta ao tema nodal que nos interessa: que relação haverá entre norma linguística e inclusão social? Ora, se acatarmos que a plenitude do exercício da cidadania implica ouvir e ser ouvido, dizer e participar, argumentar e construir, em todos os fóruns de discussão política, disso resulta ser essencial o domínio do uso linguístico exemplar. Incluir, nesse caso, significa conferir ao cidadão o direito de ser considerado por todos, e o caminho mais exequível para que se consiga esse desidrato não é o de garantir-lhe o direito de expressar-se sempre em registro popular, mas o de conceder-lhe a ferramenta poderosa da expressão escrita e oral em um registro que seja de domínio geral.
Poder-se-ia argumentar que a rejeição social dos que se recolhem a uma dada língua funcional, sobretudo a imersa nos registros populares, constitui preconceito linguístico. Trata-se de um argumento falacioso, pois os que se dedicam ao estudo da língua em sociedade bem sabem que semelhante rejeição não é absoluta, a rigor manifesta-se apenas quando, no plano do discurso, percebe-se sua inadequação do ponto de vista expressivo. Haverá preconceito, decerto, se a rejeição for efetivamente absoluta, discriminatória, descomprometida com o ambiente social da fala e, sobretudo, com a expectativa que cada falante projeta no interlocutor em face de seu papel social. São esses parâmetros que nos levam, por exemplo, a desconfiar da competência de um professor que desconsidera as regras mais basilares da concordância verbal no decorrer de uma aula, já que com esse procedimento o sujeito falante viola um estereótipo da interação sociolinguística, ou no dizer técnico da Análise do Discurso, revela um ethos discursivo que desafina com um ethos pré-discursivo (cf. Mainguenau, 2008). O mesmo indivíduo, em outra cena discursiva, na qual não se inscreva o estereótipo do professor, poderá perfeitamente manifestar-se em norma coloquial sem causar perplexidade.
Em síntese, a busca de inclusão social, no amplo sentido de conferir ao indivíduo a plenitude do exercício da cidadania, não raro situa-se numa lógica do avesso, em que as políticas inclusivas ou afirmativas buscam convalidar um desempenho linguístico dissonante com forças axiológicas que operam no discurso. Se, de um lado, devemos atestar que um empecilho à inclusão social figura em não admitir que existem outras formas de comunicação e expressão linguística distintas da norma-padrão, que se revelam válidas em contextos específicos, devemos igualmente aduzir que a desejável e efetiva inclusão social impõe um projeto pedagógico que garanta ao falante o direito ao saber linguístico mais elevado, no patamar da norma exemplar, de tal sorte que possa atuar sem reservas em todos os cenários da vida social.
É nesse ponto que emerge a relevante participação do professor de língua materna na formação linguística de todo cidadão. Sua tarefa implica acatar e fazer valer as variantes linguísticas presentes em cada língua funcional, mediante comentário, leitura de textos e estratégias pedagógicas que expressem a diversidade e a riqueza dessas variantes. Por outro lado, cumpre igualmente ao professor trabalhar em classe com as estruturas linguísticas que se consolidaram numa tradição cultural comum, que formam o que vimos denominando língua exemplar, na esteira da teoria magistral de Eugenio Coseriu. Conclui-se, pois, que uma ação afirmativa e inclusiva, no terreno específico dos usos linguísticos, impõe conferir ao educando acesso a todas as modalidades de uso da língua, sobretudo as que ainda não lhe são familiares, segundo padrões idiomáticos consagrados pela exemplaridade atual. Somente assim poder-se-á assegurar-lhe um ensino linguístico verdadeiramente democrático e garantir-lhe o exercício da palavra sem freios, reservas ou limitações no devir de sua vida social e pessoal.
Texto da autoria do linguista e filólogo brasileiro Ricardo Cavalierepublicado em 8 de dezembro no mural Língua e Tradição (Facebook).



