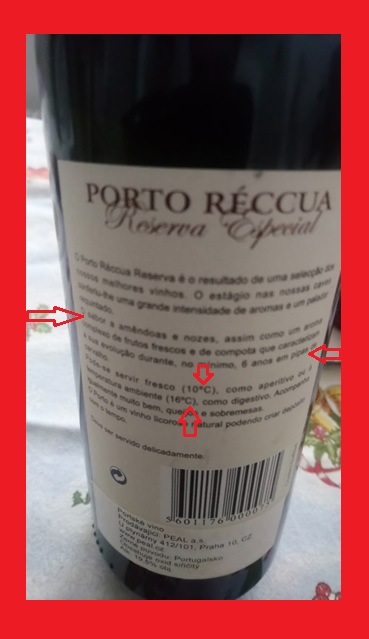e congregações da Igreja Católica Pergunta: Nos nomes dos religiosos, após Padre "X", Frei "Y", Fulano "Z", os religiosos inserem um código de duas letras, de significado nebuloso e que não vejo em lado nenhum explicado. Uns escrevem "SJ" após o nome; outros apõem "SI", [...] e outras siglas ainda. Contrariando todas as regras do bom uso de siglas, eles não as explicam em lado nenhum, assumindo – erradamente – que toda a gente as saberá ou deverá saber, coisa de que eu duvido muito. O que significarão, ao certo, essas siglas...
Textos publicados pelo autor
Abreviaturas de ordens
e congregações da Igreja Católica Pergunta: Nos nomes dos religiosos, após Padre "X", Frei "Y", Fulano "Z", os religiosos inserem um código de duas letras, de significado nebuloso e que não vejo em lado nenhum explicado. Uns escrevem "SJ" após o nome; outros apõem "SI", [...] e outras siglas ainda. Contrariando todas as regras do bom uso de siglas, eles não as explicam em lado nenhum, assumindo – erradamente – que toda a gente as saberá ou deverá saber, coisa de que eu duvido muito. O que significarão, ao certo, essas siglas...
e congregações da Igreja Católica Pergunta: Nos nomes dos religiosos, após Padre "X", Frei "Y", Fulano "Z", os religiosos inserem um código de duas letras, de significado nebuloso e que não vejo em lado nenhum explicado. Uns escrevem "SJ" após o nome; outros apõem "SI", [...] e outras siglas ainda. Contrariando todas as regras do bom uso de siglas, eles não as explicam em lado nenhum, assumindo – erradamente – que toda a gente as saberá ou deverá saber, coisa de que eu duvido muito. O que significarão, ao certo, essas siglas...
O neologismo pedovia
Pergunta: No início do passeio pedonal do guincho existe um sinal vertical com a inscrição "pedovia". Esta palavra existe?Resposta: A palavra em questão (com o significado de «faixa para caminhadas ou corrida»), não está dicionarizada, mas tem uso, por muito discutível que seja a sua formação à luz de padrões mais regulares e tradicionais para a formação de palavras em português.
Com efeito, é uma palavra que tem por modelo ciclovia, «via/faixa para bicicletas», e ferrovia, «caminho de...
«É claro que....» vs. «claro que....»
Pergunta: É possível explicarem-me em que contextos é que iniciar uma frase com «Claro que» não é correto? Quando é que se exige a colocação do verbo ser antes de claro (e.g. «É claro que»)?
Muito obrigado.Resposta: Não tenho conhecimento de fontes de doutrina normativa que considerem «claro que» uma expressão incorreta. A diferença que se nota entre esta e as suas versões mais extensas ou completas –«é claro que», ou «está claro que», ou, ainda, «fique claro que» – está exatamente no facto de...
A origem do topónimo Burguel (Algarve)
Pergunta: Queria aprofundar a origem e significado da palavra Burguel.
Existe um topónimo em São Brás de Alportel, Pátio do Burguel, atribuído por deliberação camarária de 27 de Março de 2007, na Acta n.º 8/2007. Contudo, é topónimo muito antigo, visto que já vem referenciado em sessão camarária de 15 de Setembro de 1916, como Rua do Burguel (actualmente já não existe este topónimo).
Muito obrigado.
[O consulente segue a antiga ortografia.]Resposta: As fontes impressas de...