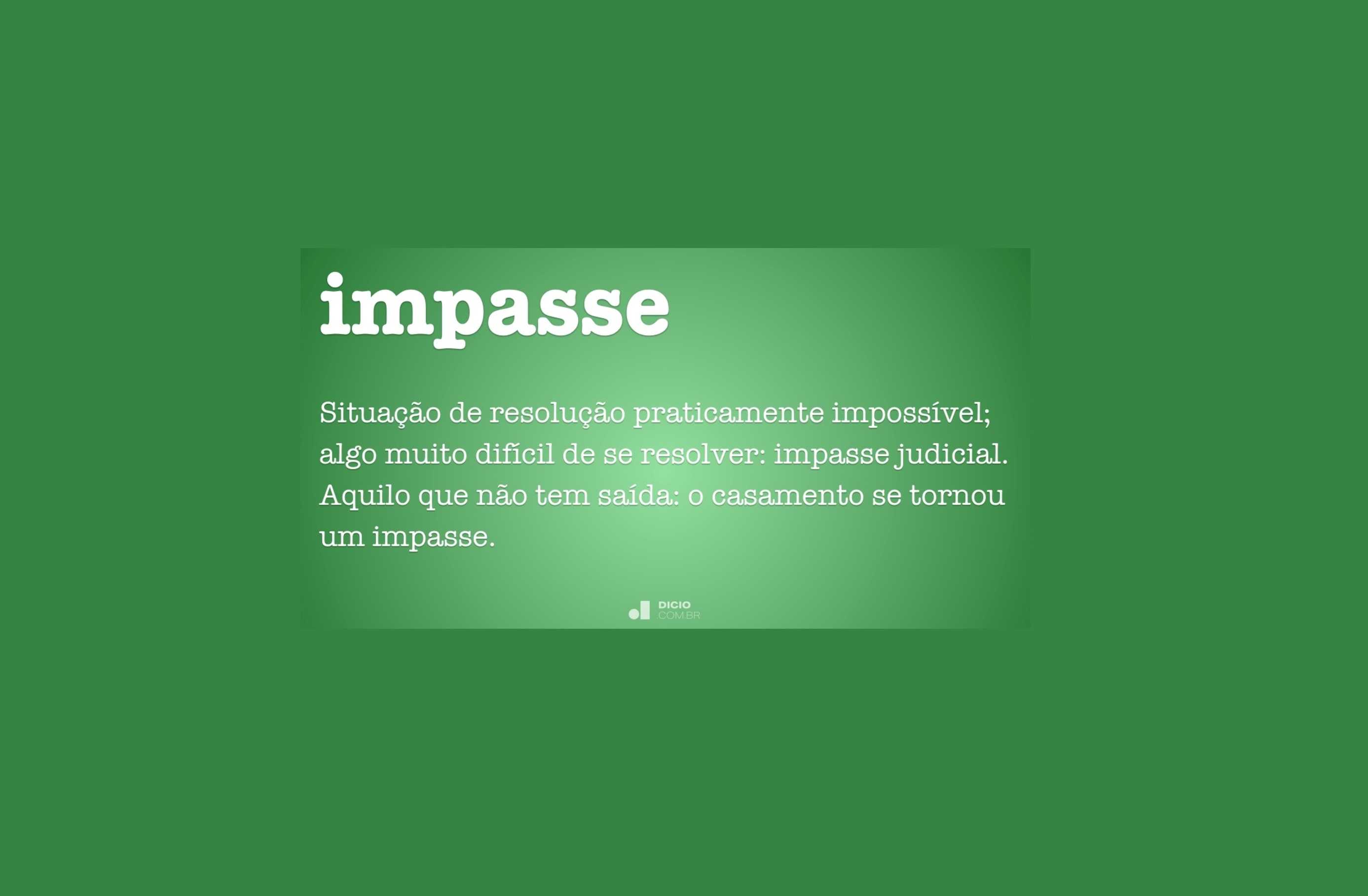Textos publicados pela autora
 O léxico do combate aos incêndios florestais
O léxico do combate aos incêndios florestais
A vaga de calor de julho de 2022 em Portugal
Alguns termos e expressões mais correntes na comunicação pública a respeito da grave crise dos incêndios florestais e rurais em Portugal, sobretudo nas regiões do Centro, durante a intensa e prolongada vaga de calor da primeira quinzena de julho de 2022....
O adjetivo só como predicativo do complemento direto
Pergunta: Na frase «Encontramos ele só na praia», qual a função sintática de só?
A palavra só exerce a função de adjunto adnominal? Ou complemento nominal? O pronome ele aceita adjunto adnominal?
Obrigado.Resposta: Antes de mais, importa referir que, na frase apresentada, o pronome ele desempenha a função de objeto direto, pelo que se deveria optar pela forma átona do verbo:
(1) «Encontrámo-lo só na praia.»
Como recorda Bechara, «O pronome...