Paulina Chiziane: «No momento da guerra entre o preto e o branco, onde é que fica o mulato?»
Escrever sobre a realidade de Moçamique
«(...) Sempre procurei saber quem era Camões. Um jovem, desordeiro, um aventureiro e um excluído (...). Quando olho para nós como africanos, encontro alguns pontos comuns. (...) » O amor, a mulher, a violência, a desigualdade social, a casa, são os protagonistas da literatura de Paulina Chiziane, a moçambicana que denuncia fossos sociais com histórias que conta como à frente da fogueira na sua infância. Orais, livres de amarras de géneros. Pergunta-se muitas vezes o que pode um prémio. No caso de Paulina, a primeira mulher africana a vencer o Camões, retirou-lhe a estranheza, resgatou a obra do esquecimento, deu-lhe leitores. Não foi só o prémio, também foi o seu poder de sedução para falar da liberdade de fazer o que quer.
O amor, a mulher, a violência, a desigualdade social, a casa, são os protagonistas da literatura de Paulina Chiziane, a moçambicana que denuncia fossos sociais com histórias que conta como à frente da fogueira na sua infância. Orais, livres de amarras de géneros. Pergunta-se muitas vezes o que pode um prémio. No caso de Paulina, a primeira mulher africana a vencer o Camões, retirou-lhe a estranheza, resgatou a obra do esquecimento, deu-lhe leitores. Não foi só o prémio, também foi o seu poder de sedução para falar da liberdade de fazer o que quer.
No dia em que ganhou a edição de 2021 do Prémio Camões, Paulina Chiziane estava sentada à sombra da sua árvore, no quintal da sua casa na periferia de Maputo, e não escondeu a surpresa nem a alegria. Saiu-lhe uma gargalhada rouca, longa, de boca virada para o céu, como as que deu ao longo desta conversa. Paulina estava então “posta em seu sossego”, como diz agora, noutro dia, em Lisboa, meses depois de o seu nome ter saído do esquecimento e de os seus livros ganharem leitores por todo o mundo de língua portuguesa. A repercussão do Prémio Camões, no caso de Paulina, teve um efeito inédito nesse sentido: o da projecção de um nome e da curiosidade do público em relação à sua obra.
Nesse dia de Outubro de 2021, Paulina Chiziane dedicou o prémio às mulheres do seu país, as principais protagonistas dos livros que escreveu desde 1990, quando se tornou a primeira autora de um romance em Moçambique e a primeira mulher africana a ganhar o maior prémio da língua portuguesa. “O que é que esta mulher tem para dizer?” A pergunta é ela quem a faz, pondo-se no lugar daqueles que ao longo dos anos foram duvidando da qualidade do que escreveu e publicou: dez romances e o testemunho Eu, Mulher... Por uma Nova Visão do Mundo. Entre esses livros contam-se o célebre Niketche, Uma História de Poligamia (2002) ou O Alegre Canto da Perdiz (2008). Em todos persiste o indagar acerca da condição da mulher, as questões sociais, a violência, a sexualidade, os contrastes entre os mundos rural e urbano, o Norte e o Sul, e o olhar para os anónimos enquanto motores de uma história em que falta ainda encontrar o lugar para muitos. Entre eles, os mulatos ou mestiços. “Quem são?”, pergunta também aqui a escritora nascida em 1955 em Manjacaze, província de Gaza, no Sul de Moçambique. Falante do dialecto bantu, escreveu toda a sua obra em português, a língua que o “colonizador” lhe deixou como herança e que Paulina molda sem trair o seu pensamento original, quase sempre em bantu. Daí nasceu uma escrita nova, marcada pela oralidade e pela experiência política social e cultural da escritora que olha Camões como um excluído, um aventureiro. Quanto a ela? Meteu-se na aventura da vida e foi andando. É uma escritora que zela acima de tudo pela liberdade de poder ser e escrever o que quer e que apela à necessidade de pensar o feminino africano.
Ao acabar a conversa, num dia de Maio em Lisboa, onde esteve a convite da Associação Corações com Coroa, Paulina Chiziane saiu à rua, acendeu um cigarro, inspirou o fumo e expeliu-o a fitar o céu que não tinha o mesmo azul dos olhos dela nem era o azul exacto do seu vestido.
A última vez que falámos, a Paulina estava sentada debaixo da árvore do seu quintal pouco depois de lhe terem dito que ganhara o Prémio Camões. O que é que mudou desde aí, não apenas na sua vida, mas sobretudo na sua cabeça?
Muita coisa. Eu tinha uma existência tranquila, calma; sabia a que horas tinha de acordar, de tomar o pequeno-almoço e fazer os meus descansos. Agora já não. Agora corro. É o telefone que toca, são os amigos que vêm para a felicidade, são as entrevistas que tenho que dar. Foi um rebuliço muito grande. Isso foi o começo. E no meu país a minha literatura já começa a ser olhada com olhos diferentes. Antes havia uma dúvida – é típico –, é uma mulher, o que é que ela escreve? O que é que ela sabe? O que é que ela julga? Fala de coisas de dentro de casa? O prémio veio mostrar que existe uma razão para eu fazer aquilo que faço e que a literatura e a língua portuguesa são escritas e faladas de mil maneiras. Um dos grandes problemas era esse; o meu português não é muito formal; é muito oral e tenho de trabalhar um pouco para aproximar os meus textos e fazer as minhas narrativas numa língua escrita e não oral. O prémio veio mostrar que isso não estava errado, que era uma outra forma de ver a vida e de ver as coisas.
Quando ganhou o prémio a sua obra estava meio esquecida, era pouco lida e em poucos meses ela voltou a ser falada, a estar visível, muita gente a descobriu enquanto escritora. Essa atenção não aconteceu com todos os ganhadores do Camões. A que é que acha que se deveu esse interesse sobre si, sobre a sua obra, em todo o mundo onde se fala português?
Uma das razões prende-se com o facto de eu ser africana. África tem a sua história, as suas narrativas, os seus fantasmas, o seu imaginário e, acrescido a isso, as pessoas começarem a perguntar-se como é que uma africana, uma negra e ainda por cima mulher consegue isso? Esses factores, longe de serem factores de exclusão, acho que neste caso se transformaram em factores de curiosidade. O que é que esta mulher tem para me dizer? Essa pode ser uma das razões. Pode ser, pode. O facto é que não sei [ri]. Muitas pessoas ganharam o prémio, no meu próprio país, e nunca vi uma celebração como agora.
Isso comove-a?
Espanta-me. O que é que eu andei a fazer durante este tempo todo por este mundo fora? Ainda estou surpresa.
 Encontrou alguma espécie de resposta para essa pergunta, o que andou a fazer este tempo todo por este mundo fora?
Encontrou alguma espécie de resposta para essa pergunta, o que andou a fazer este tempo todo por este mundo fora?
Fico assustada quando olho para trás. Digo: Meu Deus! Sem me aperceber, movi-me por tantos caminhos. Este prémio também me deu a oportunidade para uma paragem e de olhar para tudo o que andei a fazer; pelos países onde andei, os temas que fui buscar, cada um diferente do outro. Meti-me na aventura da vida e fui andando e hoje consigo perceber que dei muitos passos sem me aperceber de que estava a caminhar para muito longe.
Que longe é esse?
Chegar ao Prémio Camões. Nunca fez parte do meu imaginário, nunca sonhei. Sempre soube que os escritores podem ganhar o Prémio Camões, mas nunca me imaginei em tal situação. Escrevia apenas porque gostava de escrever, muito longe de imaginar que um dia podia chegar a este patamar.
Sempre procurei saber quem era Camões. Um jovem, desordeiro, um aventureiro e um excluído. Gosto muito de Camões, da sua figura, porque sendo esse indivíduo excluído, desordeiro e, poderia dizer, revolucionário – porque acho que por ser um excluído tinha uma visão de mundo que contrastava com a realidade em que vivia a ponto de andar nessas aventuras sem fim. Quando olho para nós como africanos, encontro alguns pontos comuns. África é um continente excluído, como nós. Desordeiro, não sei [gargalhada]. Para mim, Luís de Camões é esse indivíduo que passou pelas nossas terras e fez aqueles textos lindos, lindíssimos...
Também recriando uma língua, palavras novas.
Exactamente. Era um indivíduo para quem o mundo era a sua morada. Esteve nas nossas ilhas, teve por lá grandes paixões, fez as suas complicações; não tinha lar e fez do mundo o seu próprio lar. Uma história quase semelhante encontro nestes negros que foram excluídos, retirados, vendidos e que agora vogam pelo mundo.
Ou seja, encontra paralelos na aventura de um indivíduo e na diáspora, ainda que forçada, de um povo?
Acho que sim. Esses indivíduos, embora estejam na América, na Europa, fizeram do planeta Terra a sua morada. Gosto do Camões também por causa disso. Quando à língua, o que posso dizer? É a língua do colonizador, ou foi! A língua foi imposta e na altura da retirada esqueceram-se de a tirar do lugar onde foi implantada e ela continuou, cresceu, e está a seguir o seu rumo para algum lugar que será certamente uma língua portuguesa de Moçambique. O mesmo acontecerá à língua portuguesa de Portugal: como será essa língua? Não sei. Se considerarmos a extensão do nosso país, com os diversos idiomas locais, as línguas locais, isso vai-se misturando e com o futuro vai nascer outra coisa mais bonita do que a língua que falamos hoje. Eu viajo de Norte para Sul, estou sempre a circular dentro do país, e é muito bonito ver as pessoas de diferentes lugares a falarem português cada um à sua maneira.
Pelo modo como se apropriam?
Exactamente. A língua portuguesa é nossa e vamos fazer dela aquilo que acharmos melhor. Tem as suas vantagens, sem dúvida. Estou aqui me comunicando com o mundo por causa dessa língua. Tem às vezes desvantagens.
Quais?
Esta língua quando chegou matou, tentou matar as línguas maternas de tal maneira que até hoje temos o preconceito de que para abrir as portas do futuro é preciso conhecer a língua portuguesa, o que também não está errado, e as outras ficaram sendo línguas subalternizadas. As nossas línguas maternas eram línguas proibidas. Imagina, proibir um povo de falar a sua própria língua.
É proibir o pensamento.
Sim. Cultura, pensamento, tudo. Mas gradualmente estamos a acordar e a caminhar para algum lugar.
Ao vencer o Prémio Camões, torna-se uma espécie de embaixadora de uma língua. É chamada para falar em representação da literatura numa língua que carrega uma cultura que, como disse, é feita de abuso mas também da existência de alguém como Camões. Como é que se vê nesse papel quando é convocada em representação de uma língua – porque este é um prémio para uma obra em língua portuguesa –, sendo que o seu pensamento também acontece noutra língua?
Estou a recordar-me de algumas palavras dos nossos libertadores que já morreram, casos de Eduardo Mondlane ou de Samora Machel. Ouvi várias vezes Samora Machel dizer que temos de usar a língua que nos foi imposta pelo nosso inimigo para negociar a nossa própria liberdade. Mas, como disse, a língua portuguesa foi imposta, nós apropriámo-nos dela e acabou sendo a nossa herança. Portando, a minha herança enquanto moçambicana inclui uma herança bantu materna e a herança da língua portuguesa que me foi imposta pelo regime colonial, e vou usar essa língua imposta para negociar a minha liberdade, para negociar a minha identidade, para negociar a minha existência. Em todo o meu percurso sempre usei a língua portuguesa para negociar a minha essência como mulher, como negra, como africana.
E faz questão de sublinhar esse adjectivo, “negra”.
Eu sou negra bantu.
 E isso faz diferença.
E isso faz diferença.
Faz. E sabe porquê? No período da Libertação Nacional havia o povo moçambicano que lutava pela liberdade e ainda entre ele havia o mulato, que está entre dois mundos. Está do lado do pai – português, branco – e da mãe – negra. Daí nasce essa figura chamada mulato. No momento da guerra entre o preto e o branco, onde é que fica o mulato? Ele tem uma vivência diferente, uma história diferente e um sentimento diferente porque de vez em quando recebe alguns restos do seu pai branco. A história do mulato é sempre um bocado ambígua. Um dia está para cá, outro para lá. Contudo, temos na nossa história indivíduos brancos que estiveram a lutar pela liberdade. Um dos nomes moçambicanos de que me recordo é o Jacinto Veloso, que foi ministro e guerrilheiro e muito activo na luta de Libertação Nacional. E tivemos vários mulatos. Marcelino dos Santos é um exemplo entre eles. E tivemos vários negros. Ao mesmo tempo houve negros do lado dos portugueses e dirigiram as piores atrocidades contra o seu próprio povo. Temos poucos estudos ou poucas análises sobre a mestiçagem. O mestiço, quem é? Trabalhei muito na Zambézia, uma província onde o grau de miscigenação foi muito mais alto e percebi que ao lado dos brancos o mulato é negro ou filho da negra, ou filho da prostituta. Quando está com os negros, é filho do branco, o filho do opressor e o filho da prostituta. O estigma desse ser é muito grande. Tem dificuldades em se inserir no mundo dos brancos, porque olham para ele com preconceito; os brancos olham para ele como o filho da prostituta. Os negros olham para ele também como o filho da prostituta e não lhe resta outra coisa a não ser criar o seu próprio mundo. Já conversei com bastantes amigos meus que são mulatos e digo-lhes que têm de quebrar o silêncio, têm de falar da sua realidade, porque isso é muito importante. Um prémio destes nas mãos de um branco tem um sentido, nas mãos de um mulato tem outro e nas mãos de uma pessoa negra também tem outro sentido. Os assuntos que eu abordo, as lutas que travo, as negociações que tento fazer usando a língua portuguesa são diferentes. A história dos brancos conhecemos nós; a história dos negros conhecemos, mas este ser chamado mulato...
Ou mestiço...
Ou mestiço.
Há uma polémica até acerca de qual a melhor das palavras para o designar.
Sim. Ele nunca falou muito sobre si mesmo, mas tivemos casos como o da Noémia de Sousa, como o [José] Craveirinha que em certo momento se posicionaram ao lado do povo africano de uma maneira geral, dando os seus textos como um espaço de negociação da liberdade e da nossa independência.
Ao falar da identidade do mulato ou do mestiço, a Paulina conduz-nos para um dos seus temas literários, a mulher, que neste contexto é um papel de subalternidade e de preconceito: o da prostituta.
Exacto. Ela é sempre considerada a prostituta. Até há casos em que o homem e a mulher se unem porque se amam, mas o olho da sociedade vê aquela mulher naquela relação como uma prostituta. Os brancos olham o mulato como o filho dessa prostituta, os pretos fazem a mesma coisa. Ser estigmatizado pela raça do pai ou pela raça da mãe acho que cria um sentimento que ainda não foi revelado. Gostaria muito que eles escrevessem sobre isso.
Não se vê a fazer isso? Acha que não lhe cabe a si, que a sua voz não pode contar essa experiência
Não sei. Eu sou atrevida e, quando eu quero um assunto, eu vou atrás. Se calhar, um dia. Nunca se sabe.
Referia como a atenção sobre a sua obra se alterou desde que ganhou o Prémio Camões e apontou uma série de razões para isso, mas não terá faltado mencionar que na maneira como a Paulina fala de si mesma e da sua obra há uma espécie de sedução, e que essa sedução talvez venha da sua oralidade? Há uma sedução pela voz física além da voz literária, contadora da sua própria história. Sente que tem o poder de reter a atenção dos outros quando fala?
Comecei a perceber um pouco, com o tempo, e agora que já sou um pouco mais crescidinha, sinto que tenho um pouco disso. Mas às vezes fujo, não quero acreditar em nada; quero apenas trabalhar e fazer o que eu posso.
E isso é escrever?
Sim, escrever ou falar ou conversar.
Ou quando se senta debaixo da árvore do seu quintal em Maputo a pensar, num tempo que parece distante do deste lugar onde estamos, no centro de Lisboa?
Sim. Quando me sento e olho para o nada, para o vazio, às vezes ocorrem-me ideias que me levam a um voo. Moro numa zona onde ainda há muitos pássaros, na periferia de Maputo, e de vez em quando há um bando que se levanta e faz aquele círculo [desenha um círculo com os braços e o olhar para cima] e depois faz aquelas piruetas no ar e a minha mente vai com o bando e às vezes dou por mim a reflectir acerca de alguma coisa que nunca tinha pensado antes. Ultimamente, com a idade, já estou mais tempo sentada em casa, e ter esse momento para contemplar tem-me ajudado. Mas olhe a Europa! A Europa está em corrida. Vai do trabalho, vem do trabalho. Isso é muito bom, acho óptimo, mas falta esse espaço de respirar fundo e sentir que estou presente neste planeta tão bonito.
Em 2008 disse-me que as moçambicanas ainda procuravam a salvação no homem branco. Isso continua ou já mudou?
Enquanto os privilégios estiverem no homem branco, isso não deixará de acontecer, porque o homem branco tem recursos para a sobrevivência e há mulheres que vão em busca desse bem-estar. Isso vai continuar a acontecer. Mas houve uma evolução. Hoje já há muitos casais que se ligam, que estão conectados por afecto. No tempo colonial era um drama e as pessoas tinham de se salvar de alguma maneira; tinham de resistir de alguma forma, e ter filhos mestiços – apesar do preconceito – naquela altura era um sinal de subida no estatuto social, e a família da negra não sofria tanto a repressão colonial porque tinha os filhos como um escudo.
Um dos temas fortes da sua literatura é a paixão, o amor, escreveu-lhe uma balada [Balada de Amor ao Vento] e nele fala de tensões políticas, sociais, de género. É o amor enquanto álibi perfeito para falar do mundo. Quando fala agora sobre o drama das relações amorosas no tempo colonial, como lê, no colonialismo, o amor entre o homem branco e a mulher negra?
No princípio há sempre uma relação de ódio. Sempre. E há uma distância, mas à medida que as pessoas se aproximam, é possível o amor. É possível sim. O amor não tem a ver com a raça, e isso é uma coisa muito bonita. No nosso país, hoje, houve gente que veio da China e estamos a ter muitos netinhos chineses, lindos! E muitos brancos que vieram dos lugares mais distantes. Todas as raças se juntaram e foram formando outras raças novas e temos uma diversidade que é um bem, é um património. É muito complicado isto das relações humanas. Aquilo que digo num dos meus livros é que, quando chega o invasor, houve aquela reacção odiosa de guerra e massacres. Isso na hora do combate. Mas na hora da solidão e da necessidade existencial esses soldados encontravam conforto nas mulheres negras. Primeiro foi via agressão, depois o afecto ficou. A natureza é isto. O amor verdadeiro... Se bem que sempre pergunto o que é que o amor é?
Nunca descobriu apesar de tanto escrever sobre ele?
Olhe, volto a dizer que gosto muito da escrita do Luís de Camões; de cada vez que leio aqueles sonetos maravilhosos... Encontro um amor aqui, depois outro amor ali. O que é o amor? O amor é algo que se calhar dura uma estação que nem a Primavera ou o Verão e depois aparece outro. Ahahaha. Não sei o que o amor é, pronto. O amor é isso.
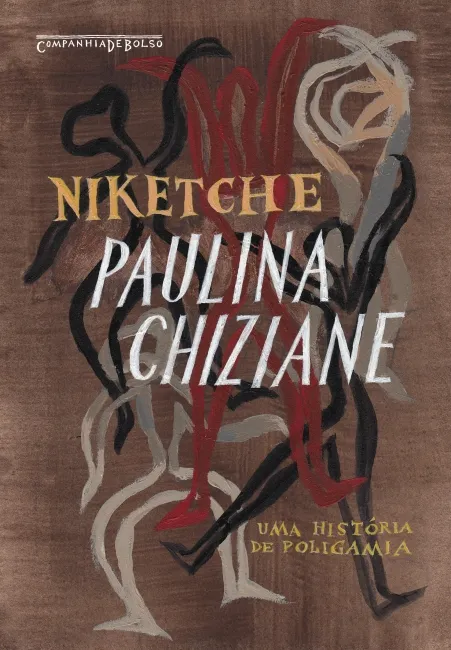 Esteve muito envolvida na política. O que a fez entrar e o que a fez sair? Fala-se em entusiasmo e de desilusão, mas o que aconteceu?
Esteve muito envolvida na política. O que a fez entrar e o que a fez sair? Fala-se em entusiasmo e de desilusão, mas o que aconteceu?
Nada de anormal. Entrei na Frente de Libertação Nacional, foi um movimento popular de todos os que sentiam que deviam dar uma contribuição para a liberdade nacional. Fiz parte desse movimento. Era jovem, trabalhava muito na clandestinidade, a distribuir panfletos pelas madrugadas. Andei a fazer essas loucuras todas. Termina o trabalho da frente com a declaração da independência. Continuei ainda naquele alvoroço da independência e depois disso, como tantas outras pessoas, decidi seguir o meu rumo. Mas há razões para mim muito pessoais. Eu gosto tanto da minha liberdade! Gosto tanto de fazer aquilo que quero que não me sinto em condições de me submeter a uma disciplina partidária ou a uma disciplina religiosa ou a uma disciplina de qualquer expressão. Seja social, seja familiar. No meu país é muito comum, sobretudo nas igrejas evangélicas, estar lá um senhor à frente que se chama pastor e o resto é o rebanho e são as ovelhas. Não me estou a imaginar numa posição de ovelha de alguém. Deus me livre! Não me meto nisso. Sou eu, no meu lugar, a pensar, a trabalhar e fazer aquilo que sinto que a minha força interior pode dar. Não sou de seguir normas, nunca.
Nem na literatura.
Nem na literatura. Não sou de seguir nada. Acho que se começar a seguir esses caminhos... Não vou contra norma alguma. Apenas estou a seguir o meu caminho. Simplesmente quero estar no meu mundo! Da mesma forma que houve indivíduos que se tornaram pensadores ou que fizeram um caminho novo em alguma área. Eu também quero sentir essa liberdade.
Tem dito muitas vezes que se vê mais como uma contadora de histórias do que propriamente como uma escritora. Mas é uma escritora no sentido em que utiliza a linguagem escrita contaminando-a com a oralidade, olhando o mundo a partir do que é doméstico. É essa a sua configuração, é a partir desse lado mais pessoal que olha para a vastidão e a interpreta?
Vou contar a primeira história. A língua portuguesa tem os seus mestres, tem os seus guardiões, e esta arte de escrever é um santuário e tem os seus sacerdotes. Aparece uma Paulina que escreve e dizem: ‘ah, Paulina, não é bem assim, não é bem assado'; ‘não é bem por aqui, mas tem de ser por ali’. No princípio eu ouvi e procurei entender. A primeira conclusão foi que ao querer chamar-me romancista estão-me a colocar numa caixa. Querendo eu ser romancista tenho de obedecer à disciplina do romance, do quanto eles são doutores e pastores; ou seja, estou a ficar novamente ovelha. Calma aí! Vocês entendem muito bem o que é romance, estudaram romance, estudaram para isso, vão mandar em qualquer outra pessoa e deixem-me. Eu não quero que ninguém coloque a sua autoridade sobre a minha liberdade. Mas dizem-me: ‘A Paulina escreveu um romance!’ E eu digo: ‘Acham que é? Se acham que é, então é convosco’. Deixem-me contar as minhas histórias como eu gosto e como eu quero. E ponto! Foi sempre assim.
Consegue identificar o princípio dessa sua história com as histórias? Foi na infância?
Acho que sim. A minha infância conta, o meu background à volta a fogueira.
Qual é a sua memória mais remota?
É de campos livres, de zona rural, noites de um luar esplêndido e nessas noites havia sempre uma fogueira e crianças à volta. Essa memória sempre me perseguiu, de tal forma que eu, regularmente, organizei fogueiras. Quando estou em casa, sobretudo nesta altura do ano, de frio, que vai entrar [em Moçambique] sento-me no meu quintal, faço uma enorme fogueira e contemplo o fogo e o maior prazer é contemplar as labaredas desde o momento em que sai o fogo até à espiral de fumo. É uma coisa que me dá um prazer imenso. Isso vem da infância.
Como o contar histórias?
Sim. E fui andando.
E há o momento da escolarização, em que aprende a escrever em português.
Foi complicado, muito difícil. Falava um português incrível. Imagine sair de um contexto de língua materna bantu para entrar numa escola com tudo em português. Os professores falavam e a gente ficava a olhar, e com o tempo lá vinha a compreensão do que nos era dito. Mas no princípio ficava na sala, pronto.
E quando soube que queria ser escritora?
Nunca soube. Sempre fui anotando ideias desde a infância, escrever nos cantos dos cadernos, escrever pensamentos. Mais tarde, leio os textos de outras pessoas e digo: olha parece que escrevo melhor do que isto. Foi através dessas comparações que senti um desejo de publicar e percebi que os meus textos não eram maus. Mas para isso foi preciso fazer a comparação com os textos das outras pessoas.
E como se começa a formar a leitora Paulina?
Isso tem a ver com a escola, primeiro. Mas eu sempre fui nocturna, quando todos dormem, eu acordo. Para lavar, para engomar, para ler, para ouvir música. Ficava muitas vezes a ouvir a minha música, a engomar, a esfregar, a ler. Ouvi muita poesia via rádio quando era jovem, e lia e depois contemplava à noite. A noite tem os seus encantos. Acho que isso também contribuiu para eu um dia decidir escrever. Acho! O dia, para mim, este reboliço... Claro que eu também fazia isso da rua, mas gostava das noites para estar comigo mesma.
Gosta de estar sozinha?
Iá, adoro.
Disse que tomava notas. Quando é que entra o computador?
Agora. Que fazer?! No princípio era tudo à mão. Que maravilha! Enchia cadernos e cadernos e cadernos, depois passava para a máquina de escrever. Para pensar preciso de ter a mão. Se a minha mão não mexe numa caneta, a ideia vem, mas não é aquela que eu quero.
Só começa quando ganha uma forma física?
É que nem o croché. Se calhar isso tem a ver com a minha geração em que tudo era feito à mão. Preciso da mão para activar o pensamento. Sobre as variadíssimas razões que me levaram a escrever, não sei quais são, mas a verdade é que gosto de escrever.
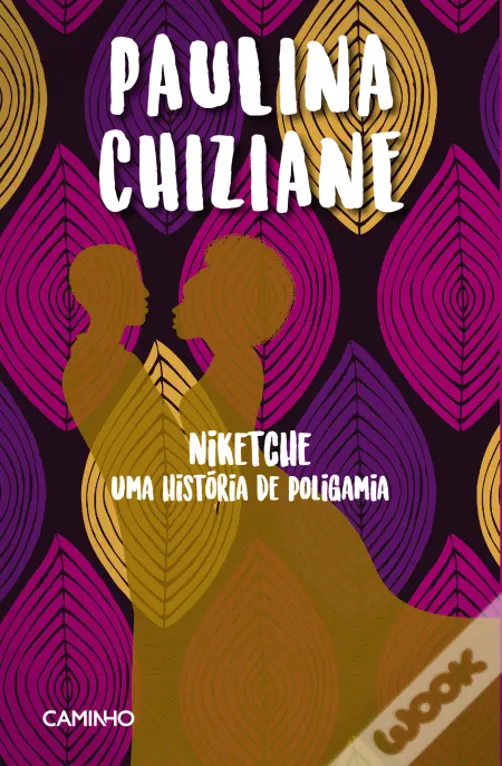 Tem sublinhado que nunca conheceu a paz no seu país. Num contexto desses, sente que enquanto escritora o seu papel é diferente?
Tem sublinhado que nunca conheceu a paz no seu país. Num contexto desses, sente que enquanto escritora o seu papel é diferente?
Essa é uma decisão individual. A gente conhece alguns escritores que ficaram tão bem vistos, que eram quase escritores do Estado. Acontece muito nos nossos países. Há escritores que estiveram contra o sistema que nem o José Craveirinha ou a Noémia de Sousa. Acabou um na cadeia e a outra emigrou para a Europa porque estava a ser perseguida. Acho que esse é um compromisso individual. No meu caso, comecei a trabalhar por prazer, poemas de amor, a adolescência, depois começo a expressar um e outro sentimento, e mais tarde a observar uma e outra vivência, um e outro problema, e acabei sendo uma escritora africana, e infelizmente os africanos, por causa da situação histórica que vivemos, acabamos usando todos os meios para lutar pela nossa liberdade. Para mim foi um processo. E quando dou por mim, digo: ‘Meu Deus!’ De repente comecei a entrar em causas e foi uma decisão individual. Mas há pessoas que escrevem para estar no sistema. Em Moçambique temos isso, pessoas muito preocupadas em fazer com que o sistema se mantenha. Sobretudo depois da independência.
Essa foi uma das causas para se ter desiludido com a política?
Não. Nem foi isso.
Diz-se uma feminista moçambicana. O que é isso?
É complicado isso. Para mim é muito prematuro achar que sou feminista, porque segundo a minha forma de pensar preciso de começar pelo feminino africano, conhecê-lo bem, para chegar ao feminismo. Qual é o feminino africano?
Qual é?
Não sei. Tem de se procurar, tem de se pesquisar e tem de se conhecer. Só depois disso é que vamos definir o feminismo. Saltar uma etapa da nossa existência não é bom. África tem de fazer isso. É um trabalho de pesquisa muito sério que temos de fazer. África tem de recuperar os seus modelos e fazer deles pontos de inspiração. Não conhecemos o nosso feminino. É muito bonito estudar o feminismo a partir da Europa, mas e a nossa história?
Onde é que ainda está presente a sociedade matriarcal?
Isso somos nós, até hoje. Isto é, na construção de uma nova família as mulheres é que tomam as grandes decisões.
E no poder fora de casa?
Já temos muitas mulheres, mas a sociedade como um todo tem uma base matriarcal forte.
E na literatura? A Paulina foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, é a primeira mulher africana a vencer o Camões.
É preciso olhar o nosso contexto histórico que tem a ver com a colonização, a destruição das instituições africanas e esta repressão do sistema patriarcal que veio com o regime colonial; é preciso ver também o patriarcado das religiões que depois encontra a tradição. Juntam-se os três patriarcados.
Veio uma religião machista.
São todas. É tudo farinha do mesmo saco.
Afirmou que acreditava que Deus pudesse ser uma mulher...
Eu não acredito em Deus, mas se existe é mulher.
Qual é a sua relação com o místico?
A mesma de toda a gente: o desejo de conhecer o que não se vê. Se calhar existe uma vida para lá desta vida. Todo o ser humano tem um pouco de místico dentro de si e os maiores místicos estão na igreja, a toda a hora quando se fala do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O mundo é gerido por mitos criados pelo próprio homem e eu não suporto muito isso.
Nos seus livros tratou sempre de temas difíceis, sobretudo para a sociedade moçambicana. Muitos escritores da sua geração saíram de Moçambique para poderem escrever mais livremente e ganhar maior visibilidade. Nunca sentiu essa necessidade?
Acho que tenho muita sorte. Comecei a escrever a sério já depois da independência. Saíram do país aqueles escritores que começaram a escrever durante o regime colonial. Estou dentro do meu país, nunca confrontei o governo, nunca confrontei nenhum partido político. Escrevo temas sociais. Não sinto necessidade de sair. Não matei ninguém, porque é que tenho de fugir? Os meus temas não têm em vista ameaçar nenhum poder. Estão muito longe disso.
Mas põem esse poder em causa a partir do tal mundo doméstico.
Esse é um ponto de vista e acho que está correcto, mas nunca senti pressão. Acredito até que se sair do país não vou ser a mesma pessoa. Posso continuar a escrever, a contar histórias, mas não vão ter o mesmo combustível.
Esse combustível é o mundo a partir da casa, como em Niketche?
É muito interessante isso, que eu no Niketche descrevo o mundo a partir casa. Foi tão bom reconhecer que afinal aquelas mulheres pobres estão no centro do mundo.
É o seu livro preferido?+
Ah, não. Não tem um especial.
Conta que Niketche nasceu de uma partida do seu editor, Zeferino Coelho.
Ahahaha! Foi mesmo isso. O malandro! Eu teria mutilado o livro, a ver o que estava bom, o que não estava. Estava nessa fase e ele disse-me: «Paulina, daqui a três meses vais ter tempo para ver. O livro já está.» Mas foi bom! Antes fiquei aflita: «Dr. Zeferino e agora, o que as pessoas vão dizer?!»
Costuma trabalhar muito os livros?
Depende. Há textos bons e há textos muito maus.
Naquele caso parece que não percebeu isso logo à partida.
Tenho os meus momentos. Há textos que faço de rajada, fica tudo na grade. Noutros volto atrás, corrijo aqui, corrijo ali.
Ganhou o Camões pouco depois de um escritor africano, Abdulrazak Gurnah, ganhar o Nobel e de se discutir a africanidade dele. Uma das questões levantadas a propósito era o facto de ele não escrever na sua língua original, mas no inglês do ex-colonizador. A Paulina também escreve na língua do ex-colonizador.
É a minha língua. Se o colonizador ma deixou, eu não tenho nada a ver com isso.
O seu pensamento é em português?
[acena que não com a cabeça]
Pensa em bantu?
[acena que sim]
Quando está a conversar comigo está a traduzir o seu pensamento?
Nem sempre, mas por exemplo, no momento da extrema dor, no pensamento mais profundo, aquele que vem na madrugada, não é em português. É o bantu. Numa primeira fase, o português acaba sendo como uma língua de trabalho e não uma língua de afecto. Depois uma e outra misturam-se.
Uma vez tentou explicar-me como se diz «eu te amo» em bantu.
Ahahaha! E é assim uma música [diz uma frase como se estivesse a ser embalada]
Parece um canto. O da perdiz?
É isso mesmo.
Cf. «Moçambique nunca conheceu momentos de paz»: entrevista a Paulina Chiziane [in Expresso, 5/05/2023]
Entrevista conduzida pela jornalista portuguesa Isabel Lucas à escritora moçambicana Paulina Chiziane, transcrita, com a devida vénia, do suplemento Ípsilon do jornal Público, em 27 de maio de 2022. Texto escrito segundo a norma ortográfica de 1945.



