Textos publicados pelo autor
Morfologia de cultura e solidário
Pergunta: As palavras cultura e solidário devem ser consideradas palavras complexas ou simples?Resposta: Cultura e solidário são palavras complexas.
A palavra cultura formou-se em latim, e, apesar de -ura ser sufixo ativo no português atual, é preciso considerar que, na língua portuguesa, cultura não se formou de culto, ao contrário de...
O verbo produtizar
Pergunta: Apesar de estar no Priberam, tenho dúvidas se é correto usar este verbo em Portugal.
Podem confirmar?
Obrigada.Resposta: É um uso discutível, que deve ocorrer em contextos muito limitados, por exemplo, na linguagem da economia.
É a adaptação do inglês to productize (ou productise), que significa «transformar qualquer coisa em produto comercial».
Há quem traduza productize pela perífrase «transformar alguma coisa em produto»:
(i) «Just because you can invent something...
O uso de segundo com orações
Pergunta: Aproveito para reiterar o meu mais sincero agradecimento à fantástica equipa desta aplicação!
O assunto que me leva a publicar esta pergunta é alusivo ao termo segundo. Não me refiro ao adjetivo numeral, mas sim a uma possível conjunção.
A minha dúvida é se se pode empregar no sentido de uma sequência de algum evento como nestas frases:
«Segundo avançava até à porta, a mente dela apenas pensava no caso clínico do utente.»
«Segundo ingeria metade da dieta instituída, uma repentina palidez...
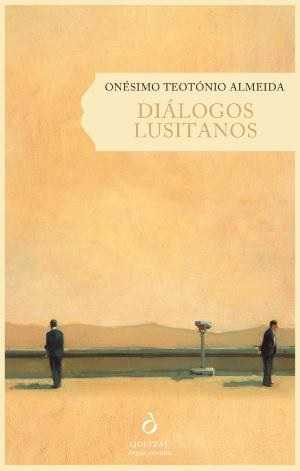 Diálogos Lusitanos
Diálogos Lusitanos
Com Portugal à distância
Ensaísta e professor universitário na Brown University (Providence, EUA), Onésimo Teotónio de Almeida tem nos últimos tempos publicado uma série de volumes em que é constante a reflexão sobre questões da cultura e da língua portuguesa, na perspetiva de Portugal, não excluindo embora a inevitável relação com os outros países de língua portuguesa. Prosseguindo, portanto, nesta linha de intervenção, surge Diálogos Lusitanos (Quetzal Editores), novo livro em que este autor reúne 25 ensaios, originariamente...
A palavra sobremesa
Pergunta: Quando e por que a refeição secundária recebeu o nome de sobremesa? A refeição principal também fica «sobre a mesa»!
E não é coisa só do idioma português, não: em inglês = overtable; e em espanhol = sobremesa!
Muitíssimo obrigado e um grande abraço!Resposta: Ao que parece (cf. Dicionário Houaiss), a denominação da parte final de um almoço ou jantar – sobremesa – deve-se à característica dessa parte da refeição – a de ocorrer...



