 Couve e alguns sinónimos
Couve e alguns sinónimos
Textos publicados pelo autor
 Couve e alguns sinónimos
Couve e alguns sinónimos
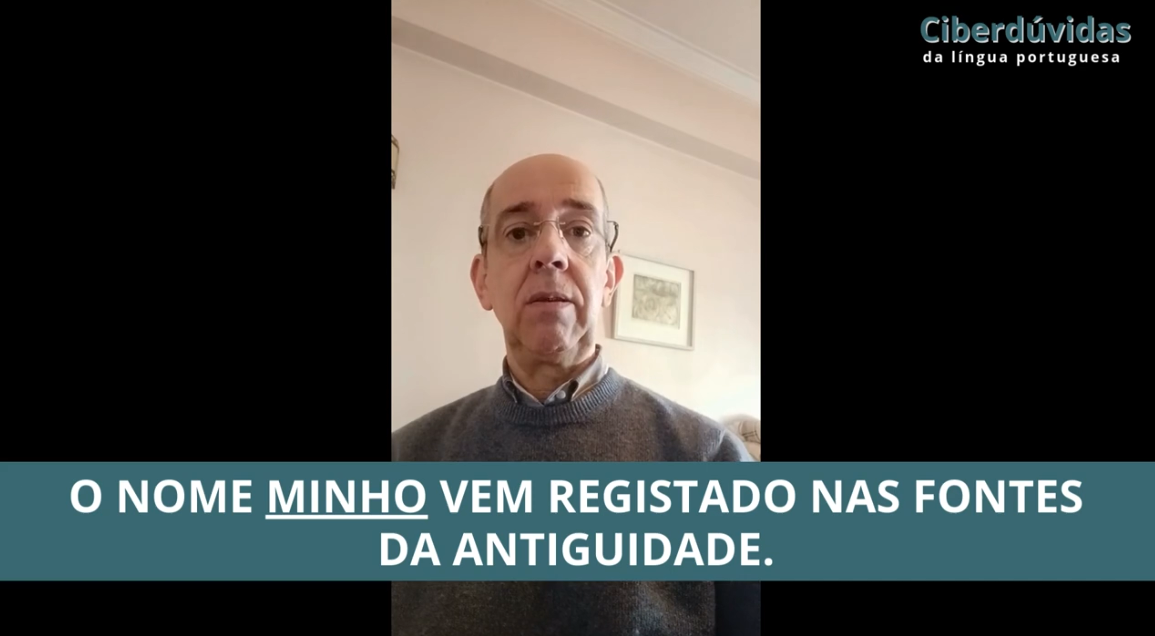 A origem do nome Minho
A origem do nome Minho
no 54.º episódio de "Ciberdúvidas Responde"
Qual é a origem do nome do rio Minho?...
O apelido Serrabulho
Pergunta: As palavras Serrabulho (apelido português) e sarrabulho (papas de sarrabulho - prato típico da gastronomia alto-minhota, principalmente de Ponte de Lima) podem ser consideradas parónimas?
Grato pelo comentário possível.Resposta: Serrabulho e sarrabulho são palavras parónimas.
Note-se, porém, que o nome comum sarrabulho tem a variante serrabulho, forma que parece estar na origem...
A expressão «cinco contra cinco»
Pergunta: Em contexto desportivo, devemos falar de um campo de «cinco-contra-cinco» ou de um campo de «cinco contra cinco»? O mesmo se aplica, evidentemente, a «dez-contra dez», etc.Resposta: Supomos que nos pergunta se a expressão se usa com hífenes.
Na perspetiva do atual acordo ortográfico, como é um caso em que existe um elemento de ligação (a preposição contra), não se hifeniza, e as expressões funcionam como locuções adverbiais:
«cinco contra cinco», «dez contra dez»
No contexto da...
 "Precaridade"? Não, precariedade
"Precaridade"? Não, precariedade



