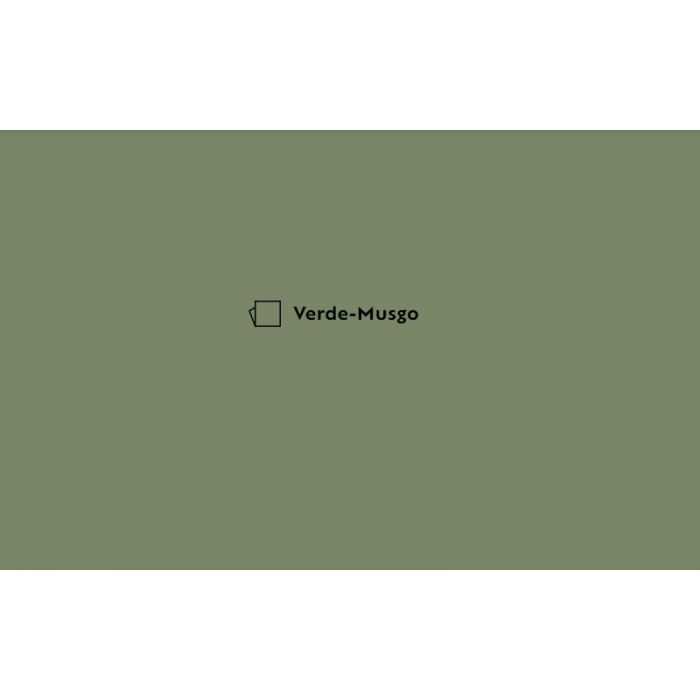Textos publicados pela autora
«Estar à espreita» vs. «estar a espreitar»
Pergunta: Gostaria de perceber a diferença e função das expressões que usam o verbo estar e um substantivo ao invés da conjugação perifrástica, como nos seguintes exemplos:
– «Estar à procura» e «estar a procurar»;
– «Estar à espreita» e «estar a espreitar»;
– «Estar à espera» e «estar a esperar»;
– (...)
Há alguma justificação para a origem destas expressões?Resposta: As construções apresentadas são equivalentes entre si.
Numa situação, apresenta-se um complexo verbal que integra um...
«Modo como...» vs «modo admirável»
Pergunta: Aqui vão duas questões:
1) Na frase «São momentos visualmente curiosos, em particular pelo modo como conciliam as paisagens naturais com os efeitos digitais», como se classifica a oração subordinada e que função sintática desempenha?
2) Na frase «A amada do poeta é elogiada de um modo admirável», que função sintática desempenha o constituinte «admirável»?
Desde já agradecida, Maria ConceiçãoResposta: Poderemos analisar a oração destacada na frase transcrita como uma oração subordinada relativa:
(1)...
O uso de proibir com infinitivo
Pergunta: Consultando algumas referências sobre infinitivo e verbos causativos/sensitivos, percebo que os exemplos quase sempre envolvem o infinitivo como objeto direto.
Entretanto, deparei-me com o caso do infinitivo como objeto indireto, relativamente comum quando se utiliza o verbo proibir (que suponho ser também um verbo causativo). Deixo um exemplo sobre a questão:
«Ele proibiu os alunos de fazerem algazarra» X «Ele proibiu os alunos de fazer algazarra.»
Fazendo uma pesquisa em textos, me...
 O verbo "sabordar"
O verbo "sabordar"