Textos publicados pela autora
A expressão «mas é»
Pergunta: Na oralidade, ouve-se muito a expressão «ter mas é de», como, por exemplo, na seguinte frase: «Tens mas é de ir trabalhar.»
No entanto, recentemente, deparei-me com esta expressão escrita como «ter mais é de».
Qual das duas está correta?Resposta: Encontramos registos de uso das duas possibilidades: «ter mas é de» e «ter mais é de». A partir dos dados do Corpus do Português, a construção «ter mais é de» usa-se no português do Brasil, ao passo que a construção «ter mas é de» identifica-se sobretudo na...
Análise sintática de uma frase de Mensagem
Pergunta: Solicitava apoio para fazer a divisão sintática das orações dos seguintes versos assim como a função sintática dos elementos das orações.
«Minha loucura, outros que me a tomem/ Com o que nela ia.» (Fernando Pessoa, Mensagem)
Muito agradecida.Resposta: Nos versos em apreço, podemos identificar duas orações subordinadas.
Devemos, antes de mais, referir que estes versos são um caso de construção exclamativa nominal1. Com efeito, as construções exclamativas podem depender de um grupo nominal, como...
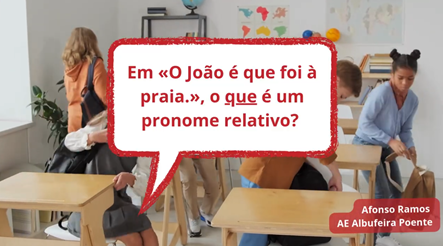 A expressão «é que»
A expressão «é que»
no 52.º episódio de "Ciberdúvidas Vai às Escolas"
Em «O João é que foi à praia.», o que é um pronome relativo?...
O estudo dos verbos causativos e de perceção nos ensinos básico e secundário
Pergunta: Gostaria de aprofundar a análise sintática de frases complexas com verbos causativos (mandar, fazer, etc) ou verbos sensitivos (sentir, ouvir, etc). Compreendo que seja uma matéria que levante algumas perplexidades, mas considero que não seria desejável remeter o seu estudo apenas para contexto universitário dado que estas frases são muito correntes nos textos, aparecendo com grande frequência.
Exemplos:
O diretor mandou-o sair
O professor deixou-o entrar
A doença fá-lo sofrer
A Maria ouviu-o...
Anáfora: «tão leve, tão fresca, tão feliz»
Pergunta: Na frase «Sinto-me tão leve, tão fresca, tão feliz», posso considerar a repetição do tão na mesma frase como anáfora?
Ou a anáfora é só a repetição de palavras no início de versos ou frases?Resposta: Na frase em apreço está presente a anáfora enquanto recurso expressivo.
Enquanto recurso expressivo, a anáfora corresponde a uma repetição de uma palavra no início de um enunciado ou de um dos segmentos da frase. Deste modo, poderemos identificar a presença da anáfora no interior de uma frase,...



