Diversidades // O português do Brasil
A influência tupi no português do Brasil
A visão do linguista Glastone Chaves de Melo
«A influência do tupi incidiu principalmente sobre o léxico, sem alterar a estrutura fonológica, morfológica e sintática do português.»
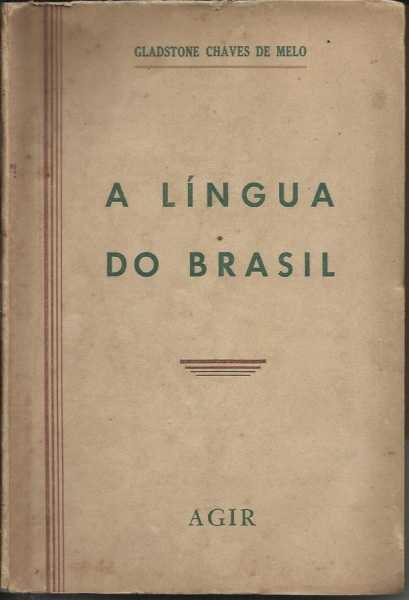 Entre as páginas 41 e 72 do seu livro A Língua do Brasil, o filólogo e linguista Gladstone Chaves de Melo analisa a influência do tupi sobre o português.
Entre as páginas 41 e 72 do seu livro A Língua do Brasil, o filólogo e linguista Gladstone Chaves de Melo analisa a influência do tupi sobre o português.
Ele observa que, entre 1500 e 1720, o tupi sobrepujou o português, sendo três vezes mais usado pela população, enquanto a língua portuguesa se restringia a contextos comerciais, administrativos e familiares de origem lusitana. Catequistas, colonizadores e bandeirantes falavam essa língua indígena, deixando marcas profundas na toponímia do país, apesar das tentativas régias de proibir o uso da língua geral no século XVIII.
Considerando o português uma língua mais evoluída e rica, produto de uma cultura desenvolvida, o autor afirma que ela acabou por se sobrepor ao tupi, que permaneceu apenas entre indígenas amazônicos. Reconhece, porém, que a influência indígena foi inevitável, ainda que o grau de sua extensão e intensidade deva ser analisado com cautela. Muitos estudos, segundo ele, carecem de isenção e deixaram aspectos importantes sem exame.
A influência inquestionável se manifesta sobretudo no vocabulário geográfico – topônimos como Ceará, Maracanã e Pindamonhangaba –, na antroponímia (Iracema, Oiticica), em morfemas incorporados à formação de palavras (cajazeira, umbuzeiro), na fauna, na flora e em diversos objetos, comidas, crendices e expressões idiomáticas. Apesar disso, a ampliação lexical representa mais um fato próprio da norma brasileira do que uma transformação estrutural do sistema linguístico do idioma.
Gladstone registra a existência de mais de 150 verbos com radicais tupis, número que supera o de origem árabe. Ressalta, contudo, que o português possui grande capacidade de derivar verbos de substantivos, o que facilitou a assimilação total do material linguístico indígena aos moldes morfológicos portugueses. Reforça também que o português do Brasil conservou, em larga medida, o sistema sonoro, a entonação, a pronúncia, a morfologia e a sintaxe do português dos séculos XV e XVI, o que explica sua semelhança com o português arcaico.
O linguista critica tanto os estudiosos portugueses, que ignoravam os avanços da filologia brasileira, quanto os brasileiros que, movidos por lusofobia, desejavam (desejam?) repudiar o legado europeu e advogar uma independência linguística impossível. Como a maior parte dos estudiosos de sua época, Chaves de Melo defende a unidade da língua portuguesa, reconhecendo a contribuição mútua das variedades de ambos os lados do Atlântico.
Sublinha, diversas vezes, que a influência do tupi incidiu principalmente sobre o léxico, sem alterar a estrutura fonológica, morfológica e sintática do português, sendo a etimologia de muitas palavras indígenas, contudo, de difícil determinação. Daí, aponta exemplos de termos erroneamente considerados tupis, como canga (chinesa), canjica (de canja, possivelmente malaiala), catana (japonesa) e Goiás (provável origem espanhola).
Para o autor, as conclusões que atribuem ao tupi influência estrutural sobre o português são insustentáveis – assim como o árabe exerceu influência lexical sem modificar a estrutura das línguas ibéricas, o tupi não alterou o sistema do português brasileiro.
Citando Meillet, o autor observa que a aquisição de uma língua nova por um povo diferente gera simplificações e imperfeições, mas essas tendem a ser corrigidas por novas ondas linguísticas e pela força unificadora da língua escrita. Mesmo assim, certas alterações de origem indígena se incorporaram ao português popular, especialmente entre camadas analfabetas, que não sofreram o influxo nivelador da escrita.
O filólogo adverte, porém, que nem tudo se pode atribuir à influência tupi, como fazem alguns estudiosos, pois muitos fatos linguísticos do PB têm explicação românica ou histórica: a posposição do pronome indefinido – «gente muita», «chuva muita» – existia no português arcaico; a iteração de sufixos diminutivos é comum em outras línguas ocidentais; a redução andando > "andano" ocorre também em outras línguas românicas; o ensurdecimento do r final (comer > "comê") é fenômeno europeu; a semivocalização do lh ("trabaio", "muié") pode ser atribuída à tendência românica ou à influência africana, e não indígena; ao chamado gerúndio redobrado ("falá-falano"), trata-se de um processo intensivo comum em diversas línguas românicas.
Gladstone refuta ainda a origem tupi do uso impessoal de ter ("tem festa hoje"), pois a concorrência entre ter e haver já vinha do latim vulgar. Contesta também que açu e mirim funcionem como sufixos, considerando-os adjetivos, e reconhece apenas -rana e -oara como possíveis formantes, restritos à Amazônia. Do mesmo modo, rejeita a ideia de que a pronúncia clara das vogais pré-tônicas (pEssoa, mEnino) ou a nasalização de vogais antes de m e n derivem do tupi, mostrando que tais fenômenos têm base românica, eram próprios do português dos séculos XVII e XVIII.
Após criticar estudiosos que afirmam influências sem provas, como Gonçalves Viana, cuja generalização carece de base empírica, o autor conclui que muitos fenômenos tidos como brasileirismos são, em verdade, arcaísmos lusitanos. Agora, Gladstone não nega a existência de alguma interferência tupi na fonética, morfologia e sintaxe; apenas propõe suspender o juízo quando outras explicações são prévias à influência indígena.
O autor associa ainda certas características do português brasileiro, atribuídas ao tupi, ao dialeto caipira, influenciado sobretudo por simplificações africanas, como a redução de flexões verbais ("eu tava", "tu tava", "eles tava") e a perda de marcas de plural ("os home tava"). Fenômenos fonéticos como redução e aglutinação («os homens» > "u zome") ilustram essa tendência, embora se observe, com a escolarização e os meios de comunicação, um recuo dessas formas.
Ao fim, Gladstone Chaves de Melo encerra sua análise advertindo os "tupinistas" de certas conclusões apressadas. Prudente, incentiva o estudo sério e científico das línguas indígenas nas universidades, a fim de delimitar com precisão a verdadeira extensão da influência tupi sobre o português do Brasil.
Artigo incluído em 20/10/2020 no mural Língua e Tradição (Facebook).



