Literatura // Escritores e poetas de Portugal
Jacinto Lucas Pires: «Estamos a perder palavras. Como pensamos por palavras, estamos a perder capacidades»
A crise da linguagem na contemporaneidade
«Quando se diz uma coisa, na verdade está-se a dizer outra – isso pode ter piada em certos contextos. E hoje está em perda. E isso depois reflete-se na política, na ideia de que parece que já não há horizontes, nem sequer já há a quatros anos, é tudo a manchete do dia seguinte, é tudo o próximo ciclo eleitoral, é tudo o que a sondagem de ontem me disse.»
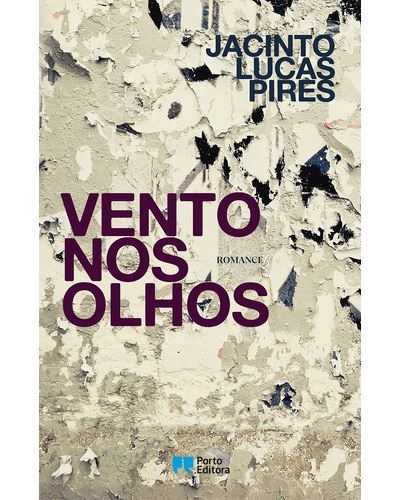 No grande cedro do meio do Jardim do Príncipe Real. Foi ali, diante da centenária árvore, próximo de onde vive, em Lisboa, que Jacinto Lucas Pires falou com o DN [Diário de Notícias] sobre o seu novo romance Vento nos Olhos. Histórias dentro de uma história ancorada em Xavi, Maria, Luz e Lydia, mas que “espreita” momentos da vida de outras personagens secundárias que, por si só, dariam um conto.
No grande cedro do meio do Jardim do Príncipe Real. Foi ali, diante da centenária árvore, próximo de onde vive, em Lisboa, que Jacinto Lucas Pires falou com o DN [Diário de Notícias] sobre o seu novo romance Vento nos Olhos. Histórias dentro de uma história ancorada em Xavi, Maria, Luz e Lydia, mas que “espreita” momentos da vida de outras personagens secundárias que, por si só, dariam um conto.
Um livro que entra nos meandros da criação artística através da investigação do vento e que sucede a Oração a que Faltam Joelhos, de 2020, vencedor do Prémio John dos Passos 2021.
– Este livro poderia ter sido um conjunto de contos ou foi pensado como romance desde o início?
– Sim, foi pensado como um romance, mas eu percebo a pergunta. Porque comecei por essa história, a história principal do Xavier, do artista plástico, mas depois, de facto, houve um momento em que a escrita começou a interessar-se pelos secundários, às vezes até pelos que seriam quase figurantes num filme. E eu primeiro deixei-me ir nisso, achei que era interessante, até porque a ideia de estarmos atentos ao outro, ou àquele que também está nas margens da história, neste caso da história com H minúsculo, é análoga aos que na nossa sociedade ficam à margem da história com H grande.
Comecei a achar isso interessante, alguém que se calhar não seria funcional para aquela história que eu tinha começado a contar, mas que também tinha uma vida, também tinha uma história, e será que a escrita poderia auscultar, espreitar a história dessa figura a partir da secundária?
É uma boa palavra, espreitar, é como se estivéssemos a olhar para um momento da vida de personagens que não se relacionam com as outras, as principais. E depois foi um desafio, porque começou como uma brincadeira quase uma autoprovocação – e se os secundários também tivessem histórias? –, e de repente começou a alastrar-se e a tomar conta do romance e depois, a certa altura, tem aquela brincadeira de que o romance poderá estar a sabotar-se a si próprio, com esse excesso de figuras, de histórias.
– Foi esse o mecanismo usado para dar sentido ao conjunto como romance?
– Isso e outras coisas, porque há a ideia de criação artística que atravessa a história de várias personagens, em campos diferentes.
Há artes visuais, mas também teatro, há um poeta, há uma espécie de escritor de não ficção, escritor de gaveta, de não ficção para a gaveta, e é a ideia de como é que se cria ainda, artisticamente, num tempo que parece da híperficção, parece ele próprio mais ficção do que a ficção, ou às vezes um mau argumento que está a acontecer à nossa volta. Como é que fazemos enquanto artistas, como é que criamos algo misterioso mas também
revelador do humano no meio desse cenário que, às vezes, é só estupidamente absurdo?
Qual o sentido da arte hoje, ou como fazer arte num tempo que é de imediatismo, sendo que a arte precisa de um tempo, de um processo, e é também esse processo. Isso junta um bocadinho as figuras diferentes, díspares. Uma ideia como uma pergunta que também juntasse histórias que podem não estar imediatamente ligadas, mas que estão sob esse mesmo guarda-chuva.
– Quando começou a escrever, ia já com a ideia do tema que queria abordar?
– Tinha uma ideia que estava cruzada com uma imagem, que era a desta figura, do Xavier, que ficava fascinado, obcecado, pelo vento.
No fundo, não era mais do que isto que eu tinha no início. E tinha também esse cenário da Ribeira Lima, que é um território afetivo para mim. E depois essa pergunta foi surgindo também a partir de dentro. O vento acho que também me trouxe essa questão do processo de criação artística, que é muito difícil – e isso desafiou-me – contar por história, sem discurso ensaístico, o que é que acontece realmente no processo artístico.
Por dentro, como é que se pode dar a ver isto? Porque depois, quem frui arte, os leitores, os espetadores, os visitantes de museus, recebem já o resultado, não é? Como é que se fala da história para chegar aí? Que também está nesse quadro, ou nesse livro, ou nesse filme, ou nessa peça de teatro, mas
como é que realmente se desconstrói isso para trás?
– Tem muitos personagens artistas também em romances anteriores, são escritores, pintores, poetas, realizadores... O que o puxa para aí?
– Escreve-se do que se gosta, do que se conhece. E depois, a partir daí, queremos buscar o que é o outro, os tais secundários, por exemplo. Mas é verdade, tenho essa tendência. Eu faço um esforço de começar a escrever sem tralha na cabeça, sem demasiada informação, confusão, o mais livre possível, que é
uma coisa que acho cada vez mais difícil, libertarmo-nos do ruído, da espuma dos dias, do excesso de informação. E termos uma certa coragem de... se eu estiver totalmente vazio, qual é o meu impulso? O que é que está aqui, no subconsciente?
– E como é que chega a esse estado, qual é o processo?
– Não tenho nenhuma receita, mas tem a ver com as rotinas que cada um encontra.
– Caminha pela cidade?
– Ando, vejo coisas. Há um filme de [Nanni] Moretti em que uma personagem diz que o tempo livre e o trabalho são iguais... Passeio, mas ao passear estou a trabalhar.
– Um escritor estará sempre a observar e acabará por incorporar isso de alguma forma no seu trabalho?
– Sim, às vezes quanto mais distraído, melhor. E isso também é um coisa difícil nos tempos que correm, que é estarmos livres destas tecnologias, dos telemóveis, estarmos totalmente livres, e o chamado ócio criativo, que está em crise e é cada vez mais difícil, porque ao mínimo sinal de tédio vamos espreitar qualquer coisa no nosso telemóvel esperto ou no nosso computadorzinho.
Quanto mais distraídos estivermos, em certa medida, mais realmente atentos, mais próximos de nós próprios, mais as nossas antenas estarão ligadas para o que é realmente essencial.
– Em Vento nos Olhos também há metaliteratura, a literatura a falar sobre literatura. Interessa-lhe essa reflexão?
– Aconteceu um pouco por acidente, não é que eu tenha isso como um interesse central, mas, de facto quando apareceu lá aquela personagem do Dimas – que aliás nasce mesmo de um episódio que é relatado no livro – isso passou a acontecer e passou a interessar-me também, porque era, por um lado, uma forma de haver um contraditório dentro do romance, isto é, haver um contrarromance, uma contracena para aquela escrita que parecia a principal. É cada vez mais importante, mas é sempre importante termos a interrogação e a dúvida, não termos só a afirmação.
Porque a dúvida também parece estar em perda e tem a ver com esse imediatismo de que estávamos a falar. Porque quando se tem uma dúvida tem que se usar três ou quatro frases para explicar qual é a questão e pôr um argumento, e quando temos todos muitas certezas, grandes verdades absolutas, basta um slogan e é mais fácil ter cliques com uma frase assim.
– O Dimas queria escrever o grande romance sobre «a crise da linguagem, a crise do espírito e a arte como último reduto nestes tempos apocalípticos». Esta crise da linguagem é aquilo que estava a referir?
– Sim. Aliás, não é nada que eu tenha inventado, há estudos. Estamos a perder palavras, as crianças, então, muitíssimo. E não é só perder palavras. Como pensamos por palavras, estamos a perder capacidades.
E para lá disso, não só palavras – e já se vê, e então quem trabalha nos jornais certamente vê isso, até na política –, é uma crise, uma espécie de doença da metáfora. A metáfora não no sentido puramente literário, mas a ideia de que há outra coisa para lá das palavras.
Algo além do meramente material, do banco de jardim onde estamos, da árvore que nós vemos, que há algo para lá disso.
– O tal “espírito”, a transcendência?
– Sim, mas também o espirituoso.Também pode ser o humor. O humor também precisa disso. Quando se diz uma coisa, na verdade está-se a dizer outra – isso pode ter piada em certos contextos. E hoje está em perda. E isso depois reflete-se na política, na ideia de que parece que já não há horizontes, nem sequer já há a quatros anos, é tudo a manchete do dia seguinte, é tudo o próximo ciclo eleitoral, é tudo o que a sondagem de ontem me disse. E essas vistas curtas têm também a ver com uma crise da linguagem que está em nós todos, não é nas estratégias políticas, não é só nos gabinetes dos partidos.
– O Dimas é o «alter ego» do Jacinto Lucas Pires?
– É o heterónimo do autor do livro. Não se diz mais do que isso. O interesse possível dessa figura do Dimas apareceu-me de surpresa e eu achei que aquilo ia mesmo fazer desmanchar o romance, mas também que era bom seguir com ele, porque era uma coisa diferente e que me estava a divertir enquanto autor – é que também serve para retirar solenidade ao projeto do autor, ao narrador, e isso pareceu-me interessante.
– Neste livro faz-se referência outros romances seus, O Verdadeiro Ator, Oração a que Faltam Joelhos... E até a pessoas reais, como o tradutor da edição americana do primeiro...
– Sim, o Dean Ellis Thomas, e o Ben Lerner também entra. Isso nunca me tinha acontecido nesses termos.
Começou por ser uma paródia à moda de autoficção – começou e se calhar acabou. Mas depois também me pareceu interessante ver quais eram os cruzamentos possíveis que a ficção podia ter com a vida. Sem deixar de ser ficção.
Era aí o ponto-limite, porque não me interessa a autoficção no sentido próprio, não é o meu território enquanto escritor, de contar a vida própria. E então, essa voz do Dimas, principalmente, faz uma certa paródia do que é a autoficção, um tipo desde logo autocentrado, com uma ideia de sucesso muito básica, e depois usa realmente nomes verídicos que entram na história. E é esse lado do humor, para o qual tenho também a tendência – e que se calhar preciso como escritor – de ter uma certa alegria no processo.
– Voltando à arte, qual é o papel da literatura e da arte na sociedade de hoje?
– Acho que tem um papel de resistência a uma espécie de atropelamento da lógica dos ecrãs, que não acontece só nos ecrãs, acontece também nalguma literatura, acontece também nalguma arte, acontece certamente muito na política, no campo da luta pelo poder e pela definição do bem comum. Isso, por um lado, de resistência. E, por outro lado, de esperança, de criar possibilidades. Falámos há pouco da metáfora, da tal crise da linguagem.
Como é que a palavra, isto é, o nosso pensamento, voltava a ter horizontes, capacidade de sonhar, de imaginar, de voltar a acreditar num amanhã qualquer que nos faça agir, que nos faça estar vivos.
Esses dois papéis certamente tem ou deve ter – de resistência e esperança, de inspiração. Agora, não é aceitar a ingenuidade que um livro resolve o mundo.
– A arte também está em crise?
– Há as duas crises. Há uma crise da arte e também há uma crise da criação artística. Da figura do artista enquanto transformador, acho que sim. Claro que há muita escolha, isso é interessante, mas há muito a ideia de artistas entertainers, do entretenimento, da arte como um mero escape.
É uma arte também resultadista, em que parece que não houve processo. Estava a falar com um amigo no outro dia sobre artes visuais e gráficas, e a ideia de que muitas das coisas antes da inteligência artificial pareciam já ser feitas como se fossem inteligência artificial.
Eram feitas por humanos, mas com a lógica estética de ser tudo limpinho, penteadinho, perfeitinho, híperdefinido, mas, na verdade, irreal, porque a vida tem atrito e é áspera, e nós temos rugas, e o mundo é a três dimensões, e a luz varia.
É também importante que o artista não seja só um malabarista que está ali a divertir as pessoas durante uns momentos.
– E a intervenção política? Está ligado ao Livre.
– Sim, sou membro do Livre. Sou um soldado raso, um militante de base.
– Preocupa-o a subida da extrema-direita em Portugal?
– Sim, em Portugal e na Europa. Nós achávamos que estávamos imunes, e estamos a perceber que não. E não é só da extrema-direita. A extrema-direita e agora é o centro-direita, que está no poder, a ser contaminado por uma certa atitude.
Não é preciso ter uma grande memória, mas há uns meses, se calhar há uns dias, nós tínhamos uma conversa num sítio qualquer, num café, numa praça, e o discurso era que nós somos diferentes, nós gostamos de aceitar as pessoas, nós próprios somos imigrantes noutros sítios, nós portugueses.
E agora entro numa conversa dessas e tenho de primeiro tentar virar o jogo que já está assente, que é de que o outro é o inimigo, é potencialmente um criminoso, ou é já um criminoso só por ter vindo para cá.
Portanto, esta desconfiança em relação ao outro que se tornou, não só formulada, que se tornou o ponto de partida para a conversa. E isto é assustador. E acho que aí, voltando à sua pergunta, há de facto um trabalho que a arte pode fazer, porque a arte ficcional, narrativa ou dramática, tem essa capacidade de nos transportar, de nos pôr no lugar do outro.
O fascinante de de uma história ou de ver uma peça de teatro ou de ver um filme é sabermos o que sofremos com o outro, que somos o outro, ou então, noutro sentido, a tal ideia de empatia, em que o outro somos nós. Só que agora transportar isso para o campo da política é um esforço também de resistência e esperança, como eu dizia há pouco.
– Admite tornar-se mais ativo na política?
– Não tenho nenhum tabu nem a favor nem contra. Acho que, se for preciso, estou cá para ajudar, mas sou um escritor.
Entrevista publicada no Diário de Notícias em 04/08/2025.



