Controvérsias // 8 séculos/800 anos da língua portuguesa
Originalidades da língua portuguesa
«Se a língua de Afonso Henriques algum nome pudesse ter tido, era só este: galego». Comunicação do escritor, crítico literário e professor universitário português Fernando Venâncio, proferida numa sessão solene de embaixadores da CPLP ocorrida em Bruxelas, no dia 15 de maio de 2014 e onde, à volta de «muitas verdades e alguns mitos» que se contam à volta da língua portuguesa, ele aborda o que considera um, do «domínio dos mitos folclóricos» e «recentíssimo»: o que atribui à língua portuguesa a idade de 800 anos.
[Texto transcrito, com a devida vénia, do portal galego PGL]
 A língua portuguesa é um sistema dúctil, gracioso e inventivo. Nele se exprimiram, e continuam a exprimir, para deleite e proveito universais, muitos homens e mulheres pelo Planeta afora. Na fala e na escrita. É bom, é uma felicidade, que este idioma exista.
A língua portuguesa é um sistema dúctil, gracioso e inventivo. Nele se exprimiram, e continuam a exprimir, para deleite e proveito universais, muitos homens e mulheres pelo Planeta afora. Na fala e na escrita. É bom, é uma felicidade, que este idioma exista.
Acerca da língua portuguesa contaram-se sempre muitas verdades e alguns mitos. Tanto os mitos como as verdades são de interesse, e, mais do que isso, são instrutivos. As verdades porque nos levam a conhecer e entender melhor a realidade, a começar pela realidade à nossa volta. Os mitos porque denunciam concepções complexas, quando não singelamente irracionais, mas mesmo assim motivadoras. Todos os idiomas têm os seus mitos. De alguns deles se afirma que foram a língua do Paraíso terrestre. De alguns mais, que nasceram na noite dos tempos, estando entre as línguas originadas na confusão de Babel. Possivelmente todas a línguas têm falantes convencidos de que a sua é 'a língua mais difícil de todas'. Vendo bem, trata-se de um elogio em causa própria. Porque, se a minha língua é a mais difícil de todas, então eu sou, desculpem lá, um fulano superdotado.
Estamos, aí, no domínio dos mitos folclóricos, inofensivos. Outro mito, também ele inofensivo, além de recentíssimo, mas já mais problemático, é aquele que atribui à língua portuguesa a idade de 800 anos. Alguém, há poucos meses, se deu conta de que em certo dia do próximo mês de Junho se completam oito exactos séculos do testamento de um rei português, Afonso II, não precisamente o primeiro documento exarado em português, mas o primeiro 'apresentável'. Noblesse oblige. A língua portuguesa teria, assim, nascido em Junho de 1214. É engraçado como 'relações públicas', mas jamais um historiador da língua portuguesa afirmaria tal coisa. Por dois ou três motivos.
O primeiro motivo é de natureza extralinguística. Um documento escrito é um testemunho de um estado de coisas, nada tem de 'fundador'. Mais ainda, é um testemunho inteiramente fortuito. Amanhã, ou daqui a dez anos, descobre-se um documento, também ele 'apresentável', mas cinquenta anos mais antigo, e lá se foi, a posteriori, a grande comemoração.
Mas ele há questões mais decisivas. A primeira é que nem 1214 nem cem anos para diante ou para trás indiciam o começo ou o fim de qualquer fase da língua portuguesa. Os historiadores mais argutos do nosso idioma concordam, sim, em que à volta de 1400 se assiste, no Sul de Portugal, e mais precisamente em Lisboa, a um conjunto de fenómenos que vão mudar a face da língua. É o momento em que toda a acção política, legislativa e cultural se vai centrar na capital, na 'corte', como se dizia. Isto implica uma ruptura com o Norte, também territorial, ao abandonar-se o velho sonho de anexar a Galiza. Desenvolve-se, então, uma norma linguística nova, onde se aglutinam características dos falares do Centro e do Sul, ao mesmo tempo que começa uma rejeição das marcas nortenhas, quase todas coincidentes com as galegas. Em suma: o ano de 1400 serviria bem melhor como momento simbólico do surgimento do português.
Existe, contudo, um motivo ainda mais crucial para esquecermos estes '800 anos de língua portuguesa'. Vejamos. Em 1143, início do Reino de Portugal, portanto mais cedo que 1214, já este idioma apresentava particularidades de toda a ordem (fonéticas, morfológicas, lexicais, fraseológicas) que o distinguiam, de modo irredutível, de toda a restante romanidade, e mais particularmente do vizinho castelhano. Essas particularidades eram tão únicas, e envolviam processos elaborativos tão complexos e tão vastos, que só uma conclusão se impõe: as feições desse idioma estavam desde há séculos definitivamente marcadas. Por outras palavras: o português ‒ aquilo que hoje chamamos português ‒ é um produto linguístico mais antigo, bem mais antigo, do que o Reino de Portugal. Ele nasceu e desenvolveu-se num vasto território do noroeste peninsular, a Galécia Magna, que (segundo Joseph Piel, o maior estudioso destas matérias) descia obliquamente da costa do Cantábrico até ao vale do Vouga, abarcando, portanto, só uma pequena parte do futuro reino português. É certo que era uma parte nuclear dele. Mas para todo o resto ‒ Trás-os-Montes, grande parte das Beiras, a Estremadura, o Alentejo, o Algarve ‒ era um idioma geográfica e historicamente estrangeiro. Que nome tinha ele, então? Chamavam-lhe linguagem, uma designação neutra, que significava, simplesmente, 'não latim'. Mas, se a língua de Afonso Henriques algum nome pudesse ter tido, era só este: galego.
Tudo isto – ser a língua portuguesa séculos mais antiga do que o próprio Portugal ‒ é, reconheçamo-lo, contra-intuitivo, e mesmo inaceitável para as concepções tradicionalmente reinantes entre nós, para a auto-imagem do cidadão português, e fere-lhe profundamente o orgulho. Mas esta é, também, uma tremenda originalidade do português: ter sido língua de comunicação numa comunidade economicamente desenvolvida, como era a da Galécia, e continuar a sê-lo, com naturalidade, sem estados d’alma, agora também no reino que os ricos senhores da Maia e do Porto, na sua empenhada e bem-sucedida conquista de espaço económico, foram estendendo para Sul. Foi esse idioma, agora já chamado português, que, nos séculos de Quatrocentos e de Quinhentos, os portugueses levaram pelo mar fora.
Todas as línguas, porque línguas de comunidades humanas, têm os seus mitos de origens, quase sempre descoincidentes dos triviais dados da História, que são frios, e pouco úteis para a retórica. Mas existe um outro tipo de mal-entendidos, já menos inofensivos, e que é recomendável encarar. Vou dar-lhes dois exemplos.
Decerto já lhes aconteceu ouvir esta frase: «A língua portuguesa é muito traiçoeira». Habitualmente serve de comentário a qualquer dito mais inadequado, ou mais brejeiro, do próprio falante. É uma forma de evasiva, apontando essa grande culpada: a língua portuguesa. Para infelicidade do utente em causa, todas, sim, todas as línguas são, no sentido pretendido, traiçoeiras. Todas se prestam a equívocos, a trocadilhos, acidentais ou procurados. As línguas são construções complexíssimas, extremamente inteligentes e, mais fascinante ainda, todas elas o são. Existem comunidades humanas que dispensam, no dia a dia, os nossos refinamentos civilizacionais, habitualmente classificadas como 'primitivas', e que se servem de idiomas de uma expressividade e uma inventividade ‒ e portanto de uma capacidade de brejeirice ‒ que ultrapassam confortavelmente as do francês, ou do espanhol, ou do português.
Existe, contudo, uma afirmação, uma frase, se possível mais infeliz ainda, e também muito corrente. É esta: «A minha pátria é a língua portuguesa». É infeliz, logo de entrada, porque é vazia. Só teria real significado se alguém pretendesse, com ela, dizer isto: 'Renego qualquer outra pátria que não seja a língua portuguesa'. Não creio que alguém o diga com sinceridade.
Só que as infelicidades não se ficam por aqui. O equívoco seguinte é atribuir-se essa frase a Fernando Pessoa. Ora, ela foi da responsabilidade de um dos seus disfarces, o semi-heterónimo Bernardo Soares, e acabou arquivada na pasta do que iria ser O Livro do Desassossego. Para cúmulo do desastre, essa afirmação figurava num contexto que, julgo eu, nenhum português assinaria. Dizia assim:
«Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente».
Trata-se, pois, de uma afirmação antipatriótica, sem mais, e que diz factualmente isto: 'Eu não tenho pátria nem quero tê-la'.
Não sou o único, nem serei o último, a lembrar estas circunstâncias. Mas o facto é que a sonorosa frase surge hoje por toda a parte, com deliciosas variantes como «A língua portuguesa é a minha pátria», «A língua portuguesa é a nossa pátria», ou a extasiada exclamação «Língua portuguesa, minha pátria!»
Estamos no terreno da pura retórica, do gosto de fazer-se ouvir, ou de, simplesmente, deixar-se embalar nas próprias sonoridades. Mas até isso, esse espalhafato, continua a ser inócuo se comparado com afirmações que, essas sim, nunca nos deveriam ser consentidas.
Penso numa pretensão, viva em certos círculos portugueses, a da 'vocação universal' que a língua portuguesa teria como virtude própria. Trata-se de uma afirmação disparatada, e até perigosa. Vou dizer porquê. Muito antes de falantes de português começarem a pensar assim, já esses termos eram correntes entre ideólogos de língua espanhola. Confrontados com o facto histórico da absorção e do aniquilamento que o castelhano, durante séculos, fez dos idiomas que, a leste e a oeste, o flanqueavam, esses ideólogos conceberam uma tese deveras espectacular. Ninguém, disseram eles, deveria admirar-se com tal coisa. Porquê? Porque o castelhano carregava em si um germe constitutivo de superioridade, um indomável instinto de dominação. Sim, insistiam, o castelhano estava, linguisticamente, estruturalmente, construído para dominar, para submeter. Nunca eles conseguiram mostrar onde se escondiam, concretamente, tal germe ou tal instinto. Os utentes do castelhano ‒ e alguns deles escreveram e escrevem autênticas maravilhas ‒ mereceriam algum respeito mais. Não, não são as línguas que têm propriedades anímicas. Se o espanhol dizimou os antigos idiomas vizinhos, foi porque os seus falantes eram governados por elites, essas sim, ambiciosas e implacáveis.
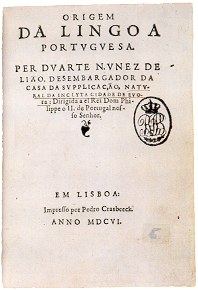 Esse é um problema do espanhol? Sim, é um problema do espanhol. Mas não nos enganemos. Existe um número suficiente de portugueses dispostos a atrelar-se a essa mensagem castelhana de superioridade. Inacreditável? Dou-lhes dois exemplos. O primeiro envolve um ministro português, o segundo um académico lisboeta.
Esse é um problema do espanhol? Sim, é um problema do espanhol. Mas não nos enganemos. Existe um número suficiente de portugueses dispostos a atrelar-se a essa mensagem castelhana de superioridade. Inacreditável? Dou-lhes dois exemplos. O primeiro envolve um ministro português, o segundo um académico lisboeta.
Em Abril de 2006, o ministro português das Obras Públicas visitou Santiago de Compostela, a capital da Galiza, para dar uma conferência sobre «El papel de las infraestructuras en el desarrollo del Noroeste Peninsular». É provável que o ministro se tenha, de facto, expressado em espanhol. Assim fazem habitualmente, em Espanha, os dirigentes portugueses. Segundo o jornal Faro de Vigo, o ministro terá feito, entre outras, as seguintes declarações: «Soy iberista confeso. Tenemos una historia común, una lengua común y una cultura común. Hay unidad histórica y cultural e Iberia es una realidad que persigue tanto el Gobierno español como el portugués». Com efeito, pouco tempo antes, o próprio primeiro-ministro afirmara que as suas «três prioridades em política externa» eram «Espanha, Espanha, Espanha».
Um segundo caso, esse mais recente. Em Outubro de 2012, um membro da Academia de Ciências de Lisboa discursou em Ourense, também na Galiza, numa sessão solene de certa colectividade académica. No final da alocução, fez esta recomendação aos seus anfitriões galegos: «Não tenham medo do bilinguismo, ou seja, da convivência pacífica entre duas línguas que são irmãs na ascendência linguística, que são próximas, e pujantes, não apenas na Península Ibérica, mas também na América do Sul e no Mundo. Trabalhando em conjunto, o Português e o Espanhol constituirão talvez o maior bloco linguístico do Mundo».
Esta gente perdeu, nitidamente, as estribeiras. Tamanho triunfalismo e tamanha subserviência deveriam envergonhar-nos. Tanto mais que nunca os outros, os espanhóis, se pronunciam em tais termos a nosso respeito. Tudo isto deveria pôr-nos de sobreaviso. Quando há responsáveis portugueses que se tornam, sem uma reserva, sem um rubor, objectivos propagandistas da grandeza espanhola, é caso para travarmos entusiasmos, e perguntar-nos se a dominação e o engrandecimento são os parâmetros mais recomendáveis quando inculcamos o português.
O nosso idioma tem, felizmente, outras virtudes, talvez mais modestas, mas essas sim essenciais, que apontam a horizontes mais saudáveis, e que verdadeiramente não nos deixam mal no mundo.
Uma grande virtude da língua portuguesa, e decerto não a menor, é o que chamaríamos o seu intrínseco cosmopolitismo. Trata-se sobretudo de uma qualidade do nosso léxico, que permitiu, ao longo dos séculos, a justaposição de materiais com diferente génese e diferente história. A língua mostrou sempre a capacidade de gerir essa hibridez, de conviver bem com ela. Vou dar um exemplo simples.
Observemos palavras como perfeito, conceito, direito, defeito. São palavras de conformação notoriamente portuguesa. Existem formas afins dessas, como perfeição, conceituado, direitista, defeituoso. Mas todas elas convivem com os vocábulos perfeccionismo e perfectível, conceptual e conceptualizar, direccionar e directiva, defectivo e indefectível. Isto é, em vez de forçar este segundo grupo, de cariz mais 'culto', a conformações tradicionais, não, integrou-o só com um mínimo de adaptação. E, assim, onde já havia espaço e espaçoso cabe também espacial, onde reinavam viço e viçoso pode crescer vicioso.
Este cenário repete-se centenas de vezes no nosso idioma. O português não foi esquisito, não se entregou a manigâncias puristas. Melhor, ameaçava fazê-lo, mas depois esquecia-se, contemporizava. Sem dúvida: todos os idiomas têm um maior ou menor grau de hibridez, admitindo soluções recentes em coabitação com formas evoluídas. São os fatais reflexos da história, da temporalidade. Só que o português é, nisso, um autêntico campeão. Isto revela uma fundamental atitude de convivialidade, de autêntico cosmopolitismo, que teve uma tradução social na facilidade com que estabeleceu relações por esse Mundo fora.
Linguisticamente, isso fez do português o que ele é: uma língua policêntrica, com uma dispersão de normas bem definidas e a promessa de outras mais. É mais uma das suas virtudes. Proveio tudo isso de uma opção consciente, ou até ponderada? Não creio. Portugal nunca verdadeiramente desenvolveu uma política linguística nos territórios que controlava. Achava a aceitação do português por outros povos um dado óbvio. E, mesmo quando fez algo parecido a uma política linguística, os resultados escaparam-lhe. O caso do Brasil parece-me ilustrativo.
A norma linguística brasileira, tão marcada como a conhecemos, é, paradoxalmente, uma criação portuguesa. Ao impedir a imprensa em território brasileiro até inícios do século XIX, ao não ter fundado no Brasil uma só universidade (quando a Espanha, em finais de Quinhentos, já fundara várias no continente americano), ao ter permitido ‒ e bem ‒ o desenvolvimento, durante séculos, de uma chamada 'língua geral' ao longo da costa do Brasil, Portugal objectivamente estimulou o desenvolvimento de uma norma linguística brasileira.
Certo: nós podemos ler sem problema de maior a imprensa e a ficção brasileiras, e eles podem ler as nossas. Uma percepção 'culta' e tolerante não tropeça nas diferenças. Mas, para o consumidor comum, sobretudo o brasileiro, as diferenças são decisivas. O mercado livreiro português ainda admite, em certas circunstâncias, uma edição brasileira de literatura inglesa, espanhola ou outra. Mas o mundo brasileiro da edição não comercializa nenhuma tradução (literária ou técnica) europeia. O consumidor brasileiro não está disposto a pagar um livro técnico, de divulgação, ou de ficção, com a nossa sintaxe, o nosso léxico, a nossa semântica, a nossa fraseologia. Ele sente-os como marcas estrangeiras, e, para ele, são-no efectivamente. O Acordo Ortográfico não veio, nem virá, modificar nada neste cenário. A euforia inicial dos editores portugueses com o Acordo já se esvaiu, e eles sabem-se hoje enganados, descobrindo por si mesmos aquilo que os linguistas desde há dezenas de anos lhes afiançavam: que a questão não era ortográfica mas essencialmente linguística, e que só na cabeça dos ideólogos unitaristas, existia, ou existe, uma 'norma internacional' do português.
Insisto: Portugal nunca desenvolveu, menos ainda impôs, uma observância gramatical ou vocabular a que o Brasil deveria submeter-se para ser aceite e respeitado. Ainda que o quisesse ‒ e sabiamente não o quis ‒ não teria tido êxito.
Esse precedente brasileiro deve ser encarado como da maior relevância para o português em África. Ele oferece todo o espaço para que os países africanos de expressão oficial portuguesa desenvolvam, e mesmo estimulem, normas próprias. Não há motivos para recear uma 'desagregação' da língua portuguesa, como fazem os ideólogos unitaristas portugueses, e mesmo alguns brasileiros, saudosos da bela ordem gramatical europeia, ela própria um produto histórico de doutrinários do século XVIII, que ‒ como qualquer norma linguística ‒ nada tem de sagrado, de 'natural', de intrinsecamente correcto, que nos proporciona decerto uma confortável segurança, mas que é menos estável do que pudera supor-se. Sim, também a norma do português europeu está, ela própria, em movimento.
O Brasil avança hoje, pois, na dianteira da defesa de uma norma própria, a chamada «norma urbana culta» (surpreendentemente homogénea num tão imenso território), e são os melhores linguistas que sustentam essa dinâmica. A linguística brasileira assume, decididamente, o português como língua pluricêntrica. Assim poderão fazer, daqui em diante, os sábios de outros países, acolhendo, gerindo e até estimulando normas próprias, desatendendo as quimeras de um português 'ideal', que é, se virmos bem, uma fantasmagoria. Atentemos, antes, em mais essa originalidade da língua portuguesa, uma das suas virtudes também, que é a de ser descentralizada, e não refém de uma qualquer prepotência académica centralizadora.
Em suma: sobre o conjunto da língua portuguesa agem, saudavelmente, forças centrífugas, o que vem sendo assinalado até por linguistas portugueses, com destaque para Ivo Castro, da universidade de Lisboa, porventura o mais conceituado de todos, que fala numa «pulsão separativa» do português. São forças, essas, que nenhuma medida poderia contrariar, muito simplesmente porque ninguém, linguistas incluídos, saberia que medidas tomar para conservar uniforme o português. A realidade linguística é demasiado complexa para se dobrar a acções voluntaristas. Tudo o que podemos, e devemos, é tentar gerir essa realidade complexa e em movimento, alertando, sim, para tendências pontuais que reputemos menos merecedoras de estímulo. Globalmente, porém, as derivas são inelutáveis, irreversíveis mesmo, e nem um nem dez Acordos Ortográficos reaproximarão, um centímetro que seja, as normas do português já tão definidas ‒ normas que, mais que ortográficas, são fonológicas, gramaticais, lexicais, fraseológicas. Claro: a nossa linguagem 'culta' é ainda muito homogénea. Simplesmente, o idioma é bem mais do que o conservador jargão dos intelectuais. Vendo bem, o padrão português europeu acha-se, no Brasil, num processo de reelaboração, tal como, há séculos, no Sul de Portugal, o modelo nortenho e galego foi, ele também, reelaborado, para produzir esse mesmo padrão português europeu.
Não há, autenticamente, motivos para alarme. Tudo quanto estruturalmente nos distingue, e sempre distinguiu, de qualquer outro idioma está para durar. Nada, no espaço da língua portuguesa, ameaça as sete vogais tónicas, a preferência pelos ditongos decrescentes, os nossos produtivos e sugestivos sufixos, a extrema condensação das formas (só, nó, dó, pó / vir, voar / cor, dor), o emprego do infinito pessoal e do futuro do conjuntivo, a resposta em eco («Sabes? Sei»), mais os muitos vocábulos ‒ e são largas centenas de substantivos, de adjectivos, de verbos ‒ exclusivos nossos, bastantes deles enxertados no rico latim da velha Galécia.
Nenhuma deriva africana, brasileira ou portuguesa atentará contra esse sistema linguístico criado há mil e quinhentos anos. Ele, esse sistema, está de pedra e cal. É essa armação, essa firme arquitectura, que nos mantém, e manterá, juntos por muito tempo ainda. Os nossos pés estão em cima de quinze magníficos séculos de idioma.
Comunicação proferida numa sessão solene de embaixadores da CPLP ocorrida em Bruxelas, no dia 15 de maio de 2014. Escrita segunado a antiga norma ortográfica.



