Mega Ferreira, o colecionador de palavras
A propósito do seu derradeiro livro, o 40.º
 «(...) Como é que as palavras nos tocam? E “que mistério envolve o envelhecimento e a obsolescência das palavras? (...)»
«(...) Como é que as palavras nos tocam? E “que mistério envolve o envelhecimento e a obsolescência das palavras? (...)»
António Mega Ferreira (1949 — 2022) tinha espírito de colecionador. De viagens, de experiências, de conexões entre diferentes elementos, histórias, livros, contextos. Foi um autor prolífico que sempre se interessou por escrever, mas que, a partir do momento em que decidiu que esse seria o único caminho com verdadeiro sentido, se entregou a isso por completo, publicando em cinco anos, de 2017 a 2022, 15 dos quarenta livros que compõem a sua obra literária. Alguns foram romances, houve também poesia. Mas ele dedicou muito do seu tempo a verter no papel observações e impressões que, filtradas pela sua conhecida erudição e curiosidade intelectual, deram origem a objetos literários híbridos, a meio caminho entre reflexões pessoais e a história real dos lugares ou das circunstâncias.
Assim nasceram os livros de viagem, como as Crónicas Italianas, de 2022, pela Sextante, que recebeu o Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga — uma viagem pelo território que dá à luz um percurso de pensamento, revisitando Bocaccio, Maquiavel, Don Giovanni, Freud, Rossini, Miguel de Cervantes, Proust, e a relação com Itália como lugar mítico, o lugar onde Mega Ferreira escolheu (re)nascer.
Depois deste livro, também em 2022, ele lançaria outro, o Roteiro Afetivo de Palavras Perdidas. É outra grande viagem, desta vez pela linguagem, na esperança de «resgatar palavras do relativo esquecimento em que caíram», palavras que se eclipsaram um tanto, registadas ao longo do tempo numa lista laboriosa. Palavras que se foram perdendo e tiveram um tempo no discurso do autor — como o próprio o admite — e são, por isso, capazes de «desencadear exercícios de reminiscência pessoal sobre os modos, as circunstâncias, o tempo em que elas foram correntes».
A questão da reminiscência é central: explica que, desde a primeira frase, o livro tenha o tom intimista da revelação. Como é que as palavras nos tocam, como é que marcam épocas da nossa vida, o tempo histórico que nos foi dado a viver? E «que mistério envolve o envelhecimento e a obsolescência das palavras?» Que caiam em desuso, que sejam descartadas como se descarta um pano encardido, que tenham brilhado e esmorecido, e sido substituídas por outras são fenómenos que o autor, ao «virar o retrovisor da memória», não consegue explica. Não explicando, quer revisitá-las, fazer-lhes uma visita. É isto que o livro é.
A sua ordem é a do alfabeto, o seu fôlego, o da introspeção. Acanhamento, segunda da lista, pode bem exemplificar o empreendimento. Evoca o dia em que William Faulkner, após ter recebido o prémio Nobel de Literatura, foi convidado em Paris para uma receção em sua honra, e passou a noite a fugir dos jornalistas, refugiando-se no jardim. Esta cena, conta Mega Ferreira, foi recordada por Javier Marías no livro Faulkner y Nabokov: Dos Maestros, de 2016. Nesta situação, a palavra encontra a sua «figura-limite», já descrita em 1928 por Teixeira de Pascoaes. No caso de Mega, acanhamento «tinha mais a ver com uma certa reserva social, uma timidez incapacitante, particularmente sensível em ambientes urbanos, em que as classes sociais se avistavam de longe sem verdadeiramente se tocarem. Era um efeito de bloqueio, mais do que uma opção solitária.» Das aceções que emanaram dos dicionários, nenhuma, diz ele, «parece mais próxima da que se usava na minha juventude do que aquela que, figuradamente, é dada pelo Aulete 1881: ‘encolher-se (como um cão)’».
Avançar neste livro é encontrar, em pouco mais de 200 páginas, tesouros como este: «O mundo salazarista era um mundo de clichés: o da pequenez e pobreza portuguesas, o do mundo exterior que nos era tradicionalmente hostil, o da Espanha que se assemelhava a um gato pronto a saltar sobre a sardinha portuguesa. Era uma mistura de ressentimento e impotência, ambos cuidadosamente alimentados pela propaganda oficial. Uma pavorosa ignorância de tudo o que passava além da nossa fronteira terrestre, adubada pelo crivo censório e pela beatice dominante, contaminava a nossa pobre visão do que nos rodeava e empurrava-nos para uma reserva que era sinal da nossa incapacidade para tomar em mãos o nosso destino. Pequenos, pobres e parvos.»
O leitor fica a saber que cacharolete — que o autor encontrou no cabeçalho de uma secção regular da revista Cara Alegre, na qual se recolhiam chistes e anedotas diversas em linguagem pouco mais que telegráfica — significava «misturada, salgalhada». Da mesma forma, esférico remonta ao dia em que fez três anos e alguém lhe deu uma bola colorida, que ele foi chutar «com fervor contra os muros do quintal onde a objetiva de um fotógrafo de bairro captou» a sua «pose satisfeita, naquele dia de primavera de 1952, Gloríola, pecado, telefonia, estafermo, vate, soalheiro, infernizar, desaustinado, bandidos, galheta, geringonça, cartapácio também fazem parte do roteiro.
ROT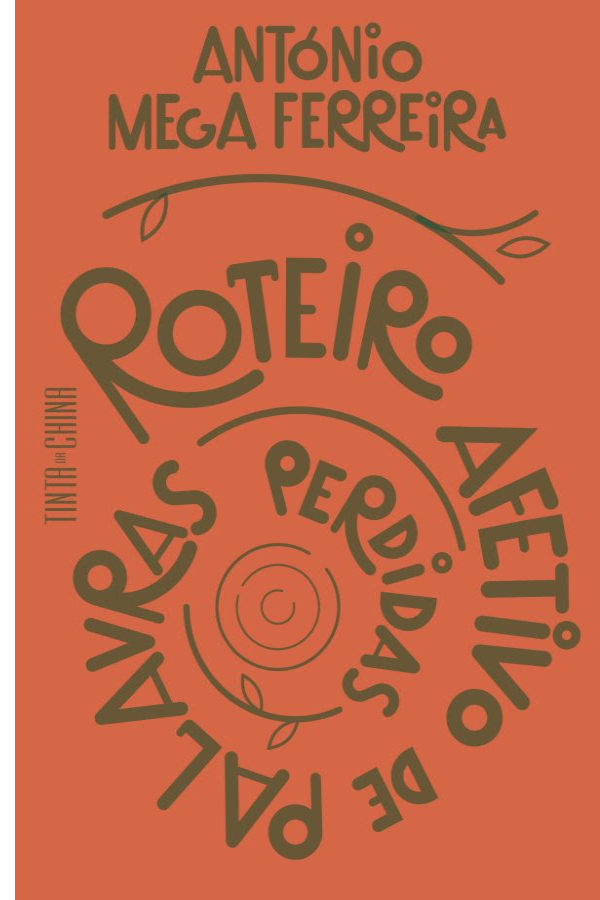 EIRO AFETIVO DE PALAVRAS PERDIDAS
EIRO AFETIVO DE PALAVRAS PERDIDAS
António Mega Ferreira
Tinta-da-China, 2022, 215 págs., €17,90
Não-ficção
Assim como judiarias, que Mega Ferreira lembra ter entrado no seu vocabulário por «via popular e faceciosa», significando em conversa doméstica ‘pregar partidas’, «como se jouer des tours fosse um exclusivo dos judeus, ainda que há muitos séculos cristianizados». Nascido na Mouraria, imprecisamente isso lhe indicava estar em área de mouros, «cuja existência inescapável me era comunicada pelo ensino da história tal como então se praticava, ideológico, nacionalista, cristianíssimo, intolerante». No tempo de Mega Ferreira, narra o próprio, os judeus eram ignorados enquanto os muçulmanos eram tratados como «perros infiéis».
A associação do judaísmo às patifarias nutria-se da narrativa dominante sobre os judeus desde os tempos da Inquisição, aspeto que, diz ele, Joshua Ruah (no livro saído em 2022 pela Caminho, Um Judeu em Lisboa) viveu como «uma forma mitigada de racismo». Mas a análise objetiva de uma palavra não a despe do seu conteúdo emocional, por isso Mega, que a associa «a alguns dos traços dominantes e mais aprazíveis da minha mãe — a alegria de viver, o sentido do humor, o prazer do convívio», gosta de pensar que a palavra «se esvaiu» quando aquela morreu, em abril de 2005.
Numa das entradas finais, vocação, ele confidencia que, após uma visita à casa-museu George Sand, em Paris, no início deste século, tentou «experimentar a mão», pintar. Comprou lápis de aguarela, cadernos, pincéis. Amigos ofereceram-lhe tintas e estojos, e ele partiu para Roma com aquele arsenal. «Só havia uma coisa pior do que não fazer bem uma coisa: é ter de se reconhecer que não se faz bem. É também a melhor: anima-nos a não insistir.» Mega Ferreira era «prisioneiro das palavras», não havia jeito. «Fora delas, não reconheço o mundo nem sei que cor lhe deva atribuir.» Essa foi a ferramenta imperfeita, de «exasperante infidelidade», com que esculpiu este e todos os seus livros. Cada um é para o que nasce, diz no começo de vocação, definindo-a. Definindo-se.
Artigo da jornalista Luciana Leiderfarb, transcrito, com a devida vénia, do semanário português Expresso do dia 6 de janeiro de 2023.



